

Introdução:
O presente artigo discorre acerca de um tema ainda atual no cenário da ciência jurídica moderna, a saber: a constituição do pensamento jurídico moderno. Diante disso, teremos a preocupação de analisar como iluminismo – movimento intelectual dos séculos XVII e XVIII desenvolvido em países europeus e em suas colônias, que tem como base a crença na razão e nas ciências como motores do progresso – foi fator decisivo para a concretização de tal pensamento.
O cenário político em que surge e desenvolve-se o Iluminismo é o do Ancien Regime, ou seja, um período caracterizado por uma centralização e monopólio do poder na figura do monarca, posteriormente (em virtude já da influência da razão propagada pelos philosophes) denominado déspota esclarecido. Apregoava-se, dentre outros valores, os de liberdade (política, econômica, social e jurídica) e igualdade, justificados pela máxima de que todos nascem livres e assim o deve permanecer. Em outros termos, buscava-se justificativa para tal nos direitos naturais da pessoa humana.
Em linhas gerais, o objetivo desse artigo é o de demonstrar que, com desenvolvimento das ideias que visavam à racionalização do conhecimento e ao progresso, o sistema jurídico foi da mesma forma atingido e, desta feita, modificado.
Nesse aspecto, analisaremos a relação intrínseca existente entre o movimento iluminista e a Escola de Direito Natural. Esta que tinha como ponto de partida a ideia da natureza humana – que corresponde a essência do homem, qual seja, a sua razão – buscou elaborar normas jurídicas que se caracterizavam pela sua universalidade e imutabilidade, constituindo, pois, um sistema jurídico claro e objetivo, que pretendia ser isento de obscuridades.
Discorreremos, brevemente, sobre as concepções de direito natural ao longo do tempo, vale dizer, nas idades antiga, média, moderna e contemporânea (nos dias de hoje), enfocando o jusnaturalismo iluminista.
Num momento subsequente, exporemos, de forma bastante sucinta, a questão dos códigos que surgiram face ao período influenciado pelo ideal iluminista, demonstrando a importância deles.
Aspectos do Iluminismo:
O iluminismo foi um movimento de ideias originado no século XVII no país da Holanda. Entretanto, foi somente no século posterior que houve o desenvolvimento e expansão dos ideais iluministas pelo norte da Europa e pela América.
O Homem Moderno buscou afastar as explicações de cunhos mitológico e religioso para adentrar no mundo racional. O objetivo era, pois, utilizar a razão humana para compreender os fenômenos e romper com a mentalidade ora vigente, ou melhor, opor-se ao Ancien Régime. Este se caracterizava, em linha gerais, por ser um sistema de governo em que o governante se investia de poderes absolutos, sem limites, exercendo de fato e de direito os atributos da soberania.
Foi justamente a classe burguesa emergente o instrumento que pôs em prática toda uma produção (teórica) cultural dos philosophes. Portanto, é interessante observar que o ideário burguês foi respaldado pelo pensamento dos iluministas daquele momento.
A burguesia almejava tomar o poder político, acabar com os privilégios, implantar a livre iniciativa e garantir a igualdade de todos perante a lei. Tais pretensões contaminaram, de uma forma geral, a população que também ansiava por tais mudanças políticas e sociais. Assim, liberdade e igualdade, antes interesses de particulares (iluministas e burgueses), tornaram-se interesses universais.
O movimento iluminista, também denominado ilustração, propunha inovações em várias áreas como forma de substituir o modelo do Antigo Regime. No que tange à forma de governo, os filósofos propunham o despotismo esclarecido que, sinteticamente, representava a inserção da razão como fator limitador do poder do monarca, denominado, sob essa nova ótica, de “déspota esclarecido”. No que diz respeito à economia, duas escolas surgiram: a fisiocrata e a do liberalismo econômico, as quais, resguardadas suas particularidades, representavam, pois, a máxima liberdade econômica, em oposição ao mercantilismo – que evidenciava a presença monopolista do estado na gerência do setor econômico. Por fim, a filosofia iluminista era aquela cujo objeto seria a libertação, a liberdade (jurídica, econômica, política). Um ideal alcançado intelectualmente, e não pela via da ação revolucionária, uma vez que esta, no dizer de Bobbio, “representaria um remédio muito pior do que o mal que pretenderia sanar”.
Convém, contudo, ressaltar a diferença de mentalidade existente entre o homem moderno e o homem medieval. Enquanto este exercitava a audição para apreender os ensinamentos da igreja, o homem iluminista exercitava a visão, o olfato e o paladar para experimentar e compreender a natureza, pois a razão era uma força que partia da experiência sensível do homem e desenvolvia-se com ela. Admitindo-se isso, todo o conhecimento era entendido como um produto da razão e esta como uma consequência da constatação experimental, possível ao homem por intermédio de seus sentidos.
No entender de Norberto Bobbio, o iluminismo não foi um movimento homogêneo. Muito pelo contrário, fora uma mentalidade desenvolvida no decorrer do século XVIII por parte de um grupo da sociedade, grupo este composto basicamente por intelectuais, burgueses e alguns reinantes. Acrescido a isto, destaca também que houve várias divergências no que diz respeito ao iluminismo existente em países como a Alemanha, Espanha, Itália, Áustria e países da Europa Oriental.
Afora as peculiaridades próprias de cada lugar, pode-se, no geral, subdividir a produção intelectual do “séculos das luzes” em dois momentos: numa primeira fase – correspondente a primeira metade do século XVIII – ocorreu o desenvolvimento das ideias iluministas. Na fase subsequente – principalmente a partir de 1770 – assistiu-se, de fato, ao surgimento dos denominados desígnios utopistas e das ideias igualitárias, ou seja, foi o período de forte oposição ao Antigo Regime ainda vigente. Na França, essa segunda geração ficou conhecida como “enciclopedistas”. Já na Alemanha, “Lessing” e na Itália foram denominados “teóricos reformadores”.
Destaca-se, nesse momento, a importância da ciência para a consolidação do iluminismo, haja vista que este tem, na expressão de Bobbio, “originalidade fraca”. A ciência foi o instrumento responsável por propiciar, ao século XVIII, segurança e confiança na razão, razão esta que fora o órgão tipicamente iluminista, contraposto, pois, à autoridade e aos ‘pré-conceitos’. O mencionado jus-filósofo sintetiza brilhantemente a aspiração dos philosophes:
“(...) o Iluminismo, de fato, aspira a atingir verdades indiscutíveis ou, quando isto for impossível, generalizações legítimas, que tenham uma fundada validade metodológica. A explicação está no fato de que os iluministas têm na razão uma confiança sem limites e querem libertar o conhecimento humano de tudo aquilo que não seja conforme a razão, especialmente se isto procede da tradição ou da história”. (BOBBIO, p. 606).
Apreende-se, ainda, que os iluministas são, por excelência, anti-históricos. Em outras palavras, isso quer dizer que eles recusam não o que a História nos traz, mas aquilo que é investido de autoridade, ou seja, tudo o que vem sendo, por séculos, aceito passivamente como uma verdade absoluta. Com isto, evidencia-se a não recepção do princípio da autoridade por parte dos iluministas. Estes, com efeito, não veem o Homem e a sociedade como história, mas, antes, como razão e natureza, não como entidades individuais, mas universais.
Acepções do Direito Natural no Curso do Tempo. Enfoque no Jusnaturalismo Iluminista:
É bastante significativa a relação existente entre o iluminismo e o direito natural. O velho mundo sofreu uma renovação radical, norteada pelos princípios da razão humana e pelo objetivo de alcançar a felicidade do Homem. Isso teve um reflexo no direito, direito este que remonta ao status naturae, ou seja, a natureza do homem em si, abstraída das modificações resultantes da ação da civilização sobre o mesmo.
É importante salientar que o direito natural denota diferentes significações no curso do tempo. Veja que ao longo de toda a história do pensamento jurídico ocidental, e durante a maior parte da sua existência, o fundamento do direito invariavelmente envolveu uma causa primeira situada em alguma natureza.
Para os gregos antigos, constituía um corpo de normas ideais não-escritas (ordem cosmológica ou do mundo das idéias); para os romanos, direito natural era tão-somente a própria lei da natureza (ordem natural das coisas). Já no entender do Homem medieval, esse direito absorvia uma conotação de cunho religioso, sendo, desta feita, vista como uma lei divina, sobrenatural (ordem divina). Por seu turno, o Homem Moderno rejeita a concepção do direito natural como sendo um ideal de justiça supremo maior do que a ordem jurídica positiva. Logo, para os modernos, direito natural está ligado à ideia da natureza humana, aquilo que não é sobrenatural; é a essência do homem, a sua capacidade racional (razão humana).
Contemporaneamente, registre-se de passagem, o aspecto da universalidade parece-nos ser, inegavelmente, uma pretensão válida e atual do direito natural. Já a imutabilidade e a inerência ao homem soam como conceitos afeitos ao jusnaturalismo iluminista. O jusnaturalismo contemporâneo assenta suas bases na natureza humana e na ideia de justiça, que se revela em princípios jurídicos seculares, conservados mesmo nas intempéries dos movimentos sociais e políticos. Talvez o maior expoente europeu do jusnaturalismo hodierno, Michel Villey[1], vai ao direito romano para reconstituir os fundamentos do direito natural.
Aduz Villey[2] que, para os romanos, o direito surge das realidades, e não da razão pura; admite a mutabilidade, característica própria da natureza; sua autoridade decorre, não dum ato de vontade, mas da observação objetiva do mundo; sua justiça não está na mera observação natural dos costumes dos homens, mas na identificação dos “bons costumes”, pelo discernimento, no interior das coisas, do justo e do injusto. E conclui:
“Não há corrente mais fecunda no século XX que o movimento de renascimento do direito natural, contanto que se trata de um autêntico renascimento, acompanhado de um trabalho de filosofia; que tenha em primeiro lugar recuperado a noção de natureza integral. É verdade que uma vez restituído ao termo direito natural seu significado primeiro, não devemos esperar muita mais dele. Ele não tem a forma de regras escritas, imediatamente utilizáveis. Não é, para os jurisconsultos, mais do que matéria de sua pesquisa. Mas as origens tem sua importância. Como dissemos no início deste livro: vãs serão as teorias que não se propuserem a cavar até a raiz do mal, e retornar ao elementar. Quando nos recusamos a perceber que um direito é um dado latente nas coisas, estamos fadados a nada entender sobre a construção ulterior do direito positivo, e impossibilitados de proceder à medida de sua autoridade”. (VILLEY).
Interessante notar que o que une todas essas visões é a concepção da existência de um fundamento imanente do direito, situado em uma natureza última, causa primeira de todos os fenômenos.
O jusnaturalismo, dessa forma, reivindica uma origem para o direito, que transcende circunstâncias históricas determinadas, residindo em uma natureza superior que rege os acontecimentos.
É recorrente encontrarmos na literatura jurídica atual (principalmente nos mais diversos manuais de direitos da personalidade), a alusão à natureza humana como fonte de tais direitos. Atribui-se uma origem inata do direito à vida, à imagem, à honra, ao nome, entre outros.
E ainda mais comum é a alusão à dignidade da pessoa humana como fonte primeira de toda e qualquer ordem jurídica. Veja bem. O que seriam a “natureza humana” e a “dignidade da pessoa humana”, senão fórmulas que fazem retornar ao homem o fundamento do direito? Muitos advogam que essas noções decorrem de uma decisão, de um ato de vontade, e, não, duma natureza. Reúnem, aqui, todos os positivismos (incluindo até as tendências humanizadoras e constitucionalistas do direito).
Entrementes, há aqueles que consideram existir no próprio homem uma ideia de justiça e dignidade fundantes do próprio modo de ser das ordens jurídicas. E, ainda que mutante no tempo, essa ideia de justiça é própria da natureza humana[3].
Voltando, porém, nosso foco para o jusnaturalismo iluminista, percebe-se que o iluminismo está atrelado a Escola de direito natural, estabelecendo, assim, uma relação bem retratada por Norberto Bobbio:
“(...) o Iluminismo se prende à escola do direito natural e acredita poder construir um corpo de normas jurídicas universais e imutáveis, que, no momento, constituem o critério de juízo da legislação vigente, mas que num Estado iluminado se tornam, ao mesmo tempo, causa eficiente e final da própria legislação”. (BOBBIO, p. 607)
A aplicação do iluminismo ao direito almejava tornar este isento de obscuridades, e isto só seria possível através do uso da razão em substituição aos velhos costumes e livros. Buscava-se, portanto, a construção de um sistema claro e certo, compreensível para o povo e à serviço desse. Para tal, dever-se-ia cumprir, de acordo com R. C. van Caenegem, duas condições: a primeira, de caráter material, diz respeito à criação de um novo sistema jurídico baseado num novo corpo de fontes. Essa condição seria preenchida pelo direito natural ou, como seus defensores preferem, ‘direito da razão’. Já a outra, de caráter substancial, seria realizada pelo uso de uma nova técnica, ou seja, os códigos do iluminismo, os quais devem suas promulgações a dois regimes em especial, quais sejam: o governo dos déspotas esclarecidos e a Revolução Francesa.
Os Códigos do Iluminismo:
O instrumento utilizado pelos reformadores modernos para realizar seus objetivos políticos foi justamente a legislação. Ao passo que valorizavam esta, repudiavam o costume e a jurisprudência, haja vista o apego ao costume revelar falta de confiança no progresso social e, por outro lado, a figura do legislador ser mais importante do que a do juiz.
Portanto, o processo de codificação – fruto do direito positivo e este advindo do direito natural – se desenvolvia. A respeito dessa relação entre direito natural e positivo, Caio Mário da Silva Pereira, citado por Carlos Roberto Gonçalves, se expressa afirmando que não há contraposição entre ambos, pois:
“(...) se um é fonte de inspiração do outro, não exprimem idéias antagônicas, mas, ao revés, tendem a uma convergência ideológica, ou, ao menos, devem procurá-la, o direito positivo amparando-se na sujeição ao direito natural para que a regra realize o ideal, e o direito natural inspirando o direito positivo para que este se aproxime da perfeição”. (GONÇALVES, p. 5)
Como marco na História, o primeiro código do período foi o codex bavaricus civilis do eleitor Maximiliano José III da Bavária, promulgado na Alemanha em 1756. Contudo, é de notável relevância no processo de racionalização jurídica a elaboração do “Código de Napoleão” de 1804 que, juntamente com os demais códigos, deram início à ciência contemporânea do Direito. A despeito desse código civil, Miguel Reale assim sintetiza:
“O Código Civil, pondo paradeiro aos conflitos das normas costumeiras e ao cipoal dos textos extravagantes, representou um corpo harmônico e lógico de preceitos, como expressão da razão mesma, capaz de atender a todas as hipóteses ocorrentes na vida, de maneira que tudo já estivesse de certo modo garantidamente ordenado no sistema legislativo” (REALE, p. 414)
Surgia, por fim, a ideia da ausência de lacunas no Direito Positivo, como também a concepção de que através de um trabalho de interpretação seria sempre possível resolver todos os problemas jurídicos.
Conclusão:
Em vista do que expusemos, fica evidenciado que o Iluminismo – movimento de ideias inovadoras desenvolvidas pelos filósofos do século XVIII, que tinha como principal característica o uso da razão humana para contrapor-se a mentalidade vigente do Antigo Regime – foi determinante para a formação do raciocínio jurídico moderno.
O racionalismo difundido no denominado “século das luzes” foi recepcionado pela Escola de Direito Natural, esta que tinha como um dos focos principais elaborar um sistema claro e racional para evitar as obscuridades que os costumes e outros livros (elementos que norteavam a aplicação do direito) manifestavam.
Daí porque a necessidade da elaboração de códigos que representassem tal feição. Destaca-se, nesse cenário, o Código de Napoleão de 1804 como um conjunto de normas civis – corolário da Revolução Francesa – que proclamava solenemente a igualdade de todos perante a lei e que exprimia, de certa forma, maior segurança e certeza ao povo, uma vez que era uma obra escrita fruto da capacidade racional do Homem.
Concluímos, também, que, muito embora o direito natural tenha recebido acepções distintas no curso do tempo, é possível falar-se em direito natural nos dias contemporâneos. Identificamos que o elemento da universalidade continua a ser, inegavelmente, uma pretensão válida e atual do direito natural, assentando suas bases na natureza humana e na ideia de justiça, que se revela em princípios jurídicos seculares, conservados mesmo nas intempéries dos movimentos sociais e políticos. Já a imutabilidade e a inerência ao homem soam como conceitos afeitos ao jusnaturalismo iluminista.
Referências Bibliográficas:
BOBBIO, Norberto et ali. Dicionário de política. 6ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1994.
CAENEGEM, R. C. van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. Editora Martins Fontes, 2003.
[1] Professor da Universidade de Sourbonne, morto em 1988.
[2] VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. Editora Martins Fontes, 2003.
[3] James Boyde White, professor da Universidade de Michigan – EUA, certamente um dos maiores nomes da filosofia jurídica contemporânea, assevera que as forças regentes da natureza humana são o amor e a justiça. “The desire for love and justice is so deep that it makes us vulnerable, and we tend to hide it behind other things—rationality or democratic theory or a view of life as choices or acts of consumption. But this phrase captures, for me at least, much of what life is about at its center”. (acessível em http://www.michiganlawreview.org/assets/pdfs/105/7/white.pdf).
Procurador Federal, ora de 1ª Categoria, cuja data de posse ocorrera em 03/03/2008, Matrícula Siape n. 1611995, Chefe da Seção da Matéria de Benefícios e Chefe-Substituto da Procuradoria Federal Especializada do INSS em Campina Grande/PB (PFE/INSS/CGE) no período entre 08/2012 a 12/2013.
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: COSTA, Carlos Eduardo de Carvalho. Direito Natural e Iluminismo: influência na formação do raciocínio jurídico moderno Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 30 jul 2013, 07:00. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/coluna/1570/direito-natural-e-iluminismo-influencia-na-formacao-do-raciocinio-juridico-moderno. Acesso em: 03 abr 2025.
Por: Eduardo Luiz Santos Cabette
Por: Jandeson da Costa Barbosa
Por: Eduardo Luiz Santos Cabette
Por: Rômulo de Andrade Moreira
Por: Sidio Rosa de Mesquita Júnior
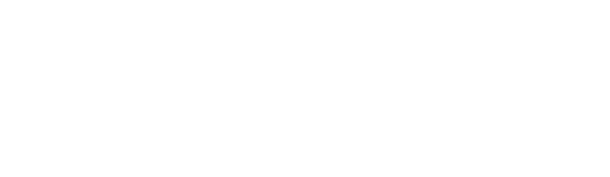
Precisa estar logado para fazer comentários.