

Resumo: O artigo propõe uma análise crítica das teorias jurídicas dos direitos humanos, contrapondo a abordagem clássica, representada por Jack Donnelly, à perspectiva crítica de Joaquín Herrera Flores. Parte-se da constatação de que a formulação tradicional dos direitos humanos, fundada em uma noção abstrata e universalista de dignidade, está historicamente associada a um sujeito ideal — masculino, branco, europeu, cis e heteronormativo — e, por isso, revela-se limitada para lidar com as múltiplas formas de opressão que atravessam grupos historicamente vulnerabilizados. Embora se reconheçam os avanços normativos decorrentes da positivação desses direitos em instrumentos internacionais e constitucionais, argumenta-se que sua efetividade permanece comprometida diante das exclusões materiais vividas por sujeitos marcados por fatores como raça, gênero, classe, etnia, deficiência e orientação sexual. A partir da teoria crítica, defende-se que os direitos humanos devem ser compreendidos como construções históricas e políticas, enraizadas em práticas sociais concretas e orientadas pela luta por reconhecimento e redistribuição. Assim, busca-se contribuir para a formulação de uma teoria dos direitos humanos mais sensível à realidade de sujeitos subalternizados, capaz de enfrentar as desigualdades estruturais que os afastam do ideal de cidadania plena.
Palavras-chave: Direitos Humanos; teoria crítica; Universalismo; Grupos vulneráveis.
Abstract: This article offers a critical analysis of legal theories of human rights by contrasting the classical approach, as represented by Jack Donnelly, with the critical perspective of Joaquín Herrera Flores. It begins from the premise that the traditional formulation of human rights—grounded in an abstract and universalist notion of dignity—is historically associated with an ideal subject: male, white, European, cisgender, and heteronormative. As such, this formulation proves limited in addressing the multiple forms of oppression experienced by historically marginalized groups. While acknowledging the normative advances achieved through the codification of human rights in international and constitutional instruments, the article argues that their effectiveness remains compromised by the material exclusions faced by individuals marked by race, gender, class, ethnicity, disability, and sexual orientation. Drawing from critical theory, it advocates for an understanding of human rights as historical and political constructions, rooted in concrete social practices and guided by struggles for recognition and redistribution. The article thus seeks to contribute to the development of a human rights theory more attuned to the realities of subaltern subjects and capable of confronting the structural inequalities that hinder full citizenship.
Keywords: Human Rights; Critical Theory; Universalism; Vulnerable Groups.
A construção dos direitos humanos na era moderna representou um triunfo contra a opressão e dominação presentes no Antigo Regime. Com a defesa dos ideais de liberdade, igualdade e propriedade, a busca pelo reconhecimento desses direitos iniciou-se como uma luta em defesa dos interesses liberais de uma burguesia indignada com a organização social estática vigente à época. Os direitos humanos, então, em sua perspectiva clássica, se afirmam como um mecanismo de limitação do poder estatal.
A teoria jurídica dos direitos humanos baseada na abordagem tradicionalista, de forte influência kantiana, fundamentou-se em uma dignidade intrínseca à condição humana para firmar sua base em uma linguagem universalista. Neste sentido, a promessa iluminista de um ideal emancipatório generalizado teve como marcos históricos iniciais a Declaração de Independência Americana (1776) e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem (1789), culminando, por fim, na Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) de 1948.
No entanto, a pretensa universalidade, abstração e hegemonia do discurso clássico dos direitos humanos camufla o importante processo de construção da categoria de “humano” sujeito de direitos, processo este capaz de revelar lógicas que invisibilizam e excluem aqueles pertencentes a grupos historicamente vulnerabilizados.
Apesar de se reconhecer os importantes avanços normativos no reconhecimento jurídico dos direitos humanos no sistema internacional a partir da teoria clássica, é necessário contestar sua capacidade de alcançar e compreender realidades que não se enquadrem no ideal masculino, branco, cis e heteronormativo de sujeito universal construído pela luta liberal. Neste sentido, teorias críticas de direitos humanos surgem como alternativa às propostas neutras e universais da teoria clássica com vistas a enxergar sujeitos subalternizados ao longo da história.
O presente artigo busca tecer um quadro comparativo entre as teorias jurídicas de direitos humanos, tradicional e crítica, adotando como paradigma os estudos de Jack Donnelly e Joaquín Herrera Flores e como pano de fundo a discussão sobre a pouca ou nenhuma efetividade desses direitos para grupos historicamente vulnerabilizados por motivos de raça, gênero, classe, etnia deficiência, dentre outros.
Busca-se, com isso, refletir sobre uma possível abordagem que considere os fatores históricos, sociais, econômicos e regionais que fragmentam a realidade social e juntos criam sujeitos vulneráveis que reivindicam um lugar no conceito de ser humano. Partimos da hipótese de que teorias universais de direitos humanos, mesmo em suas vertentes mais relativizadas, são insuficientes para contemplar diferentes condições de existência e ainda contribuem para sua maior exclusão e invisibilização.
O triunfo do reconhecimento normativo dos direitos humanos, conforme dito, contemplou ideais liberais. O homem, simplesmente por ter como valor intrínseco a humanidade, possui um núcleo duro de direitos que devem ser respeitados contra as ameaças e arbitrariedades do Estado. Baseados em uma igualdade formal, esses direitos seriam inalienáveis e intransferíveis, sendo, assim, essencialmente individualistas.
Uma das questões centrais da teoria liberal dos direitos humanos reside em seu universalismo. Para a teoria, a dignidade humana, por ser fundamento último dos direitos humanos, requer que todos sejam tratados com igual consideração e respeito. Neste sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 consolidou o ideal universal de proteção do ser humano como tal ao afirmar em seu preâmbulo “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo [...]”[1].
Jack Donnelly, tradicional teórico liberal dos direitos humanos, argumenta que há um consenso internacional sobre o sistema de direitos humanos enraizados na Declaração Universal, sendo tal consenso relativamente incontroverso. Em sua teoria, o autor resgata a contribuição do clássico John Rawls e trabalha a noção de “consenso sobreposto”, segundo o qual haveria uma convergência normativa transnacional sobre as expectativas básicas que os cidadãos podem legitimamente ter de suas sociedades e governos[2].
De acordo com o autor, apesar de haver na sociedade contemporânea uma pluralidade de religiões, tradições e costumes, ela ainda seria capaz compartilhar uma visão robusta das condições mínimas para uma vida digna e isto estaria bem delineado na DUDH através de princípios que teriam sido “amplamente aceitos como autoridade perante as sociedades dos Estados”[3].
Jack Donnelly nega que este consenso sobreposto se afirme no discurso hegemônico unicamente em razão do apoio pelo poder ou pela força. Para o autor, sua hegemonia no discurso político contemporâneo se explicaria, sobretudo, pela capacidade dos direitos humanos de expressar aspirações sociais e políticas compartilhadas por indivíduos em diversas partes do mundo. Trata-se, portanto, de uma legitimidade que adviria do conteúdo valorativo desses direitos, e não de sua imposição por agentes poderosos[4].
Liliam Monedero tece críticas à ideia de consenso sobreposto internacional levantada por Donnelly e argumenta que tal consideração, ao apresentar os direitos humanos como algo a ser seguido pelas pessoas de forma apolítica, nega a presença e a força de regimes de opressão que influenciam nessa luta. Ao tratar a construção dos direitos humanos como um processo universal e despido de influências políticas,
[...] se ignoran las fuerzas políticas y las especificidades en cada uno de estos procesos indefinidos; se niega la existencia actual de regímenes de opresión. Parece que todo ha quedado en el pasado y, gracias al recto sentido de la moral de los hombres, individualmente considerados, se ha acogido una normativa neutral, producida, también neutralmente, por el sistema internacional.[5]
Donnelly, também um universalista, ensina que a construção dos direitos humanos, desde o momento inicial até a DUDH, foi marcada por uma expansão subjetiva e substantiva. O autor explica que, inicialmente, esses direitos foram fruto de uma luta liberal que reivindicava somente interesses de homens brancos e cristãos, excluindo boa parte da população.
No entanto, no contexto pós 2ª Guerra Mundial, os direitos econômicos e sociais teriam sido reconhecidos e a Declaração Universal, posteriormente complementada com os Pactos Internacionais de Direitos Humanos (PIDCP e PIDESC), teria consolidado o núcleo duro essencial e universal a todos os seres humanos[6].
Essa proposta do autor traz uma visão linear e progressiva da evolução dos direitos humanos que se mostra um tanto problemática. Ao traçar um desenvolvimento histórico que tem como ponto final o reconhecimento dos direitos humanos na DUDH, Donnelly parece entender que aquele conteúdo comum é um trabalho acabado que satisfaz as concepções de todos os países do mundo, como se todos partissem de um mesmo referencial universal de direitos humanos (universalismo de partida).
Além disso, essa linearidade também favorece uma concepção de “gerações de direitos humanos” que desconsidera os fracassos e momentos de descontinuidade nas lutas pelo reconhecimento de diferentes direitos. Teorias universais, no geral, não levam em consideração a construção dos direitos humanos como um processo fruto de demandas populares marcadas por rupturas e particularidades.
A teoria liberal e universalista proposta por Jack Donnelly dá especial atenção à autonomia individual, segundo a qual os indivíduos possuem o direito de “governar” suas próprias vidas e de fazer escolhas importantes dentro de limites do reconhecimento mútuo de igual liberdade e oportunidade entre os demais indivíduos[7].
Ainda segundo o autor, existe uma vertente específica do liberalismo que seria compatível com os princípios consagrados na Declaração Universal de Direitos Humanos: o liberalismo igualitário. Para Donnelly, esse modelo, cujo exemplo principal seria o Estado de Bem-Estar Social europeu, pressupõe um amplo sistema de direitos econômicos e sociais, articulado a uma concepção densa de democracia política e de justiça distributiva.
O compromisso com a autonomia individual, nessa perspectiva, dependeria do apoio de uma neutralidade tolerante fundada em princípios liberais[8]. Apesar de os indivíduos não compartilharem das mesmas certezas e ideais, sempre deve haver um respeito mútuo cujo fundamento parte de uma igualdade moral básica essencial para a concepção de vida boa que respeite a igual dignidade de todos os seres humanos.
Nesse sentido, percebe-se que o universalismo relativo defendido por Jack Donnelly reconhece a existência de particularidades culturais no mundo. No entanto, com base na ideia de um “consenso sobreposto”, entende que essas diferentes culturas compartilham da mesma visão sobre o rol mínimo de direitos humanos necessários para assegurar uma noção essencial (também compartilhada) de vida boa.
A cultura, para o autor, não constitui fundamento determinante para a concretização dos direitos humanos, mas sim uma mediação para a implementação desses direitos internacionalmente reconhecidos. Portanto, o ponto chave da teoria universal liberal de Donnelly é sua compreensão de que o principal poder dos direitos humanos reside em sua proteção normativa no âmbito internacional, isto é, o rol essencial tal como positivado na Declaração Universal de Direitos Humanos.
No entanto, o discurso liberal-individualista e tecno-formal proposto pela teoria de Donnelly revela-se limitado para compreender o abismo entre o plano normativo e a realidade fragmentada por lutas e condições de existência particulares, principalmente aquelas marcadas por diversos fatores de vulnerabilidade social, econômica, racial, de gênero e de orientação sexual que atravessam todas as populações ao redor do mundo. Além de insuficiente, a teoria de Jack Donnelly, assim como outras teorias universais, corre o risco de invisibilizar e desconsiderar as lutas daqueles que não se encaixam no abstrato sujeito de direitos humanos construído sob ideais liberais e sob o prisma de uma igualdade formal.
Um dos principais riscos de uma abordagem essencialista de “conciliação sobre o conteúdo mínimo que garanta uma vida digna para todos” reside justamente na desigualdade material que se pode gerar para grupos vulneráveis que não têm reconhecido cada fator de desvantagem nesse processo de construção de ser humano. Longe de ser um trabalho acabado, uma teoria de direitos humanos efetiva deve buscar uma perspectiva dialética que considere as demandas particulares de grupos até então silenciados.
Deve-se questionar, portanto, antes de tudo, como a construção limitada de sujeito de direito condiciona uma visão de direitos humanos voltada somente para aqueles que se inserem na norma, sendo incapaz de considerar os fatores de opressão que certos indivíduos acumulam. Se é possível compreender que a formulação e positivação dos direitos humanos na Declaração Universal decorreram de lutas liberais, não é difícil reconhecer que este parâmetro normativo se consolidou historicamente como discurso hegemônico em razão do poder, diferente do que propõe Donnelly.
3. Teoria crítica dos direitos humanos como um potencial emancipatório
Uma vertente teórica crítica, originada na Escola de Frankfurt por volta da década de 1930, surgiu como alternativa à concepção tradicional dos direitos humanos. Em 1937, Max Horkheimer publica o ensaio intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, no qual propõe uma abordagem ancorada no pensamento marxista, em manifesta oposição ao modelo clássico de produção de conhecimento. Sua proposta consistia em romper com a perspectiva cartesiana e cientificista do direito, aproximando-o de formas dialéticas de análise que reconhecem a cultura como instrumento de transformação social[9].
A partir dessa matriz teórica, uma nova concepção crítica de direitos humanos passa a questionar os fundamentos do liberalismo, especialmente seu idealismo, sua abstração e sua pretensa universalidade, para então reformular a constituição dos direitos humanos como fruto de práticas sociais concretas e de lutas políticas travadas por sujeitos reais. Como afirma Gándara Carballido,
[s]endo os direitos, e o Direito em geral, configurados em função do conjunto de condições sócio-históricas, não se pode compreendê-los à margem das correlações de poder que surgem e às quais reagem, bem servindo para legitimar a ordem hegemônica, ou ainda para forjar e consolidar processos que permitam lutar por uma vida digna a quem suporta práticas de dominação e exclusão em tal configuração de poder.[10]
Joaquín Herrera Flores, seguindo essa linha de pensamento crítico, publica no ano de 2009 a obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, na qual propõe uma nova cultura de direitos humanos a partir de um universalismo de chegada. Esse universalismo seria fruto de conflitos e diálogos, lutas e processos interculturais, se contrapondo ao universalismo de partida, à pretensa neutralidade e à ilusão do acordo absoluto presente na teoria liberal (e, ainda, na de Donnelly).
Na concepção de Herrera Flores, os direitos humanos devem ser compreendidos como “resultados provisórios de lutas sociais por dignidade”, dando voz e desmascarando as diferentes realidades fragmentadas e marcadas por fatores de opressão que buscam condições materiais e imateriais para uma vida digna e um reconhecimento como ser humano sujeito de direitos, processo este mascarado pela universalidade das teorias liberais. Com isso, o autor traz uma teoria não apenas crítica, mas fundamentalmente emancipatória.
Nesse sentido, emancipar-se significa romper com o discurso hegemônico apolítico, formalista e abstrato dos direitos humanos. Nas palavras do autor espanhol,
[a]pesar da enorme importância das normas que buscam garantir a efetividade dos direitos no âmbito internacional, os direitos não podem reduzir-se às normas. Tal redução supõe, em primeiro lugar, uma falsa concepção da natureza do jurídico e, em segundo lugar, uma tautologia lógica de graves consequências sociais, econômicas, culturais e políticas. O direito, nacional ou internacional, não é mais que uma técnica procedimental que estabelece formas para ter acesso aos bens por parte da sociedade. É óbvio que essas formas não são neutras nem assépticas. Os sistemas de valores dominantes e os processos de divisão do fazer humano (que colocam indivíduos e grupos em situações de desigualdade em relação a tais acessos) impõem “condições” às normas jurídicas, sacralizando ou deslegitimando as posições que uns e outros ocupam nos sistemas sociais. O direito não é, consequentemente, uma técnica neutra que funciona por si mesma.[11]
Negar a neutralidade do direito é um importante contraponto entre a teoria de Herrera Flores e a de Jack Donnelly. Para Donnelly, a construção de um consenso mínimo sobre o conteúdo dos direitos humanos exige uma postura de neutralidade tolerante que respeite a autonomia dos indivíduos[12]. Já Herrera Flores rechaça a possibilidade de uma neutralidade na constituição de direitos humanos e enfatiza que estes advêm de processos marcados por relações assimétricas de poder e interesses ideológicos.
Nessa perspectiva, os direitos humanos deixam de ser vistos como um trabalho finalizado que teve como ponto mais alto o reconhecimento jurídico na Declaração Universal de Direitos Humanos e são redescobertos através de “processos institucionais e sociais que possibilitem a abertura e a consolidação de espaços de luta pela dignidade humana”[13]. Não se trata mais, portanto, de reduzir as práticas sociais pelos direitos como uma luta jurídica[14], mas reconhecer a historicidade e o compromisso com um constante fazer humano[15] a partir de relações sociais plurais e dos conflitos que as atravessam.
É a partir deste paradigma crítico que pensamos ser mais adequada uma teoria de direitos humanos que permita refletir sobre o abismo existente entre o plano normativo e a realidade de sujeitos marcados por diversos fatores de vulnerabilidade, como é o caso da população negra e periférica, de mulheres, da população LGBTQIA+, de povos indígenas e quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência e de tantas outras que vivem sob múltiplas formas de opressão e exclusão.
Apesar de a Constituição Federal de 1988 trazer um extenso rol de direitos e garantias fundamentais e haver no sistema internacional diversos tratados protegendo esses direitos sob o fundamento da dignidade humana, a realidade social revela a persistente dificuldade de concretização desses direitos para amplos segmentos da população historicamente vulnerabilizados que continuam a vivenciar formas sistemáticas de exclusão, violação e silenciamento.
Diferentes marcadores sociais de opressão operam de forma interseccional na produção de desigualdades e negação de direitos a grupos vulneráveis, manifestando-se, por exemplo, na limitação do acesso a serviços públicos essenciais, na precarização das condições de vida digna, na exclusão de espaços formais de deliberação política e na constante desumanização de suas existências, sendo frequentemente percebidos não como sujeitos de direitos, mas como ameaças à ordem hegemônica. É nessa lógica de invisibilização que se contribui para a legitimação das violências que os atingem.
Diante dos elementos até aqui analisados, percebe-se que a compreensão das violações de direitos enfrentadas por grupos socialmente vulnerabilizados não pode ser alcançada a partir do paradigma clássico das teorias de direitos humanos. Permanecer ancorado nesse referencial significaria adotar uma leitura superficial e acrítica da realidade, insuficiente para captá-la em sua complexidade e, mais grave, capaz de reforçar o silenciamento das múltiplas formas de opressão vivenciadas por esses sujeitos, inviabilizando, assim, qualquer possibilidade real de transformação social.
Como bem aponta Herrera Flores, a mera prescrição normativa de um direito corresponde apenas ao seu “dever ser” — não garantindo, por si só, correspondência com o “ser” concreto do mundo empírico. A efetividade prática dos direitos dependerá, portanto, “da situação que cada um ocupe nos processos que facilita ou dificultam o acesso aos bens materiais e imateriais exigíveis em cada contexto cultural para se alcançar a dignidade”[16].
Assim, vemos uma necessidade urgente de se repensar uma nova cultura de direitos humanos que supere os pressupostos formalistas e universalistas e se comprometa com a realidade histórica dos sujeitos. Consideremos, então, partir da proposta de Herrera Flores, fundada em quatro condições e cinco deveres básicos para a formulação de uma teoria crítica dos direitos humanos a fim de construir “zonas de contato emancipadoras, isto é, zonas em que aqueles que nelas se encontrem ocupem posições de igualdade no acesso aos bens necessários para uma vida digna”[17].
Como condições básicas, destacam-se: (i) a adoção de uma postura realista no sentido de ter consciência das falhas e problemas de acesso aos bens e propor caminhos para transformar essa realidade; (ii) o desenvolvimento de um pensamento de combate visando a mobilização; (iii) o fortalecimento dos direitos e garantias formal e juridicamente reconhecidos ao mesmo tempo em que se almeja lutar por novas formas de acesso aos bens protegidos; e (iv) estar sempre aberto à capacidade de indignação buscando distanciar-se ao máximo do marco hegemônico de ideias e valores.
No que tange aos deveres e compromissos que devem orientar essa nova racionalidade dos direitos humanos, o autor propõe: (i) o reconhecimento de que podemos reagir culturalmente em relação ao entorno; (ii) o respeito como forma de reconhecimento; (iii) a reciprocidade a fim de devolver aos outros o que tomamos para construir nossas vantagens e privilégios pessoais; (iv) responsabilidade pelas relações de subordinação dos outros e por exigir responsabilidade de quem trouxe prejuízo às condições de vida dos demais; e (v) a redistribuição para estabelecer medidas jurídicas, econômicas, institucionais e políticas que garantam a todos a possibilidade de satisfação de suas necessidades vitais e, mais ainda, ter uma vida digna não submetida aos processos depredadores impostos por um sistema baseado no capital.
Reposicionar os direitos humanos a partir de um olhar crítico e emancipador permite não apenas desvelar os limites de sua aplicação efetiva para os grupos historicamente excluídos, mas também propor novos caminhos a fim de alterar essa realidade cultivando resistência e fomentando a indignação com relação aos ideais abstratos e universais de sujeitos de direitos que não reconhecem as especificidades dos outros.
Nessa perspectiva, partindo de uma visão complexa dos direitos humanos, a teoria de Herrera Flores supera a dicotomia entre um pretenso universalismo de direitos e uma aparente particularidade das culturas para inaugurar uma racionalidade de resistência que rejeita um ideal universal de partida e busca um universalismo de chegada ou de confluência, construído a partir de um processo dialógico em que todas as culturas se entrecruzam e oferecem suas propostas e contribuições. Segundo leciona o autor,
[f]alamos de um universalismo que não se imponha, de um modo ou outro, à existência e à convivência, mas sim que se descubra no transcorrer da convivência interpessoal e intercultural. Se a universalidade não se impuser, a diferença não se inibe. Sai à luz. Encontramo-nos com o outro e os outros com suas pretensões de reconhecimento e de respeito. Nesse processo – que denominamos “multiculturalismo crítico ou de resistência” –, ao mesmo tempo em que rechaçamos os essencialismos universalistas e particularistas, damos forma ao único essencialismo válido para uma visão complexa do real: aquele que cria condições para o desenvolvimento das potencialidades humanas, de um poder constituinte difuso que se componha não de imposições ou exclusões, mas sim de generalidades compartilhadas às quais chegamos, não das quais partimos.[18]
Portanto, partindo do impulso que resiste e rejeita uma aderência prévia e acrítica aos discursos hegemônicos e mobiliza suas forças para construir direitos humanos a partir de diálogos interculturais considerando as demandas e lutas sociais por dignidade humana é que podemos contemplar as especificidades de diferentes realidades não inseridas em um padrão universal e abstrato de ser humano.
Com o fim das barbáries cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o triunfo dos valores e ideais de liberdade, igualdade e justiça encontrou seu reconhecimento jurídico na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, um dos marcos históricos na luta por esses direitos. Tendo como fundamento central a dignidade da pessoa humana, a Declaração afirma que os direitos humanos devem ser vistos “como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações”[19].
No Brasil, após longos anos marcados pelo autoritarismo que caracterizou a ditadura empresarial-militar brasileira (1964 – 1985), o novo contexto de redemocratização criou um terreno apto à elaboração de uma ordem constitucional compatível com os elementos essenciais da nova realidade. Promulgada em 1988, a nova Constituição passou a ser conhecida como a “Constituição cidadã” e consagrou não apenas valores liberais e individuais, mas também valores sociais pautados em uma concepção igualitária, transformadora e de justiça social.
Além de trazer um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, pela primeira vez no constitucionalismo brasileiro invocou-se a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III, CRFB/88). Apesar da importância do reconhecimento jurídico desses direitos, tanto no sistema internacional como no plano constitucional interno, a complexidade da dinâmica social aponta para uma grande dificuldade em sua efetividade, principalmente para grupos historicamente vulneráveis.
O presente artigo buscou refletir sobre as teorias jurídicas dos direitos humanos, trazendo contribuições críticas que apontam limitações de sua vertente clássica, especialmente diante da realidade de sujeitos atravessados por múltiplos fatores de vulnerabilidade. Mais uma vez, não tentamos aqui reduzir a importância do reconhecimento jurídico desses direitos. No entanto, observamos que, para compreender sua pouca ou nenhuma efetividade para esses grupos vulneráveis, é necessário partir de um olhar crítico sobre a realidade.
Apontamos que a teoria jurídica tradicional ou clássica de direitos humanos, marcada pela luta histórica de um ideal liberal individualista, é insuficiente para compreender as dinâmicas concretas de realidades que não se encaixam na concepção universal e abstrata de direitos e na própria concepção limitada de um sujeito de direitos. O quadro teórico proposto por Jack Donnelly em “Universal Human Rights in Theory and Practice”, apesar de fugir de um universalismo extremo, ainda incide sobre as mesmas premissas que inviabilizam uma discussão mais aprofundada sobre a complexidade que é a eficácia dos direitos humanos no mundo real.
Como compreender um Estado Democrático de Direito que convive com tamanha disparidade no acesso a direitos humanos e fundamentais? Como naturalizar a ausência de políticas públicas eficazes diante da precarização das condições de vida desses grupos? Como entender a persistência de práticas institucionais que negam, seletivamente, a proteção do direito e da dignidade a determinados sujeitos? Essas questões não encontram resposta adequada em um paradigma tradicional de direitos humanos. Ao contrário, exigem uma ruptura epistemológica com esse modelo e a adoção de uma abordagem crítica que reconheça as lutas, os contextos e as historicidades de sujeitos concretos.
Partir do pressuposto de que há um consenso entre todas as culturas acerca das condições para uma vida digna — como propõe a teoria de Donnelly — é insuficiente para entender por que essas condições não se impõem a todas as realidades. Ancorar a universalidade dos direitos na Declaração de 1948 como marco final de um “consenso internacional sobreposto” significa negar a realidade plural e desigual dos sujeitos e desconsiderar que os direitos humanos são, antes de tudo, um processo em disputa permanente.
Desse modo, propomos renunciar a uma pretensão abstrata e absoluta de direitos humanos e repensá-los desde as lutas sociais, aproximando-os da realidade. Teorias dissociadas da realidade empírica não fornecem instrumentos para mudá-la. Não nos interessamos, portanto, em prescrever um rol ideal de direitos que não poderão ser aplicados na prática pois foram positivados sem uma análise que considera as diferentes realidades.
Neste sentido, a teoria crítica de Herrera Flores assume papel fundamental na compreensão da complexidade de fenômenos tais como o apresentado neste artigo. Aproximar os direitos humanos do mundo real pode nos ajudar a sofisticar teorias e argumentações jurídicas em torno desse mundo e contribuir para a construção de um discurso contra hegemônico sobre a matéria.
Assim, como proposto por Herrera Flores, buscamos situar os direitos humanos para além das prescrições jurídicas, enxergando-os a partir de práticas interculturais dialógicas que transpassam processos sociais cotidianos e que reivindicam um lugar no reconhecimento e luta pela dignidade humana.
BERNER, Vanessa Oliveira Batista; LOPES, Raphaela de Araújo Lima. Direitos Humanos: o embate entre teoria tradicional e teoria crítica. In: CONPEDI, 1, 2014, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2014.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 25 fev. 2025.
DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Nova York, Estados Unidos: Cornell University Press, 2013.
GÁNDARA, Manuel. Críticas a algunos aspectos que subyacen a la teoría liberal de los derechos humanos. En: América Latina y el Caribe: un continente múltiples miradas. Buenos Aires: Clacso, 2014. Pp. 105-114 (Tradução de Lucas Gomes).
HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.
MONEDERO, Liliam Fiallo. Derechos Humanos y Justicia Social: Crítica a Jack Donelly. RedPensar, 7(1), 1-16. DOI: https://doi.org/10.31906/redpensar.v7i1.158. Acesso em: 20 fev. 2025.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.unicef.org. Acesso em: 01 mai. 2025.
[1] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.unicef.org. Acesso em: 01 mai. 2025.
[2] DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Nova York, Estados Unidos: Cornell University Press, 2013, p. 58.
[3] Ibidem, p. 55, tradução própria.
[4] Ibidem, p. 57.
[5] MONEDERO, Liliam Fiallo. Derechos Humanos y Justicia Social: Crítica a Jack Donelly. RedPensar, 7(1), p. 9.
[6] DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Nova York, Estados Unidos: Cornell University Press, 2013, p. 91.
[7] Ibidem, p. 65.
[8] DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Nova York, Estados Unidos: Cornell University Press, 2013, p. 68.
[9] BERNER, Vanessa Oliveira Batista; LOPES, Raphaela de Araújo Lima. Direitos Humanos: o embate entre teoria tradicional e teoria crítica. In: CONPEDI, 1, 2014, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 8
[10] GÁNDARA, Manuel. Críticas a algunos aspectos que subyacen a la teoría liberal de los derechos humanos. En: América Latina y el Caribe: un continente múltiples miradas. Buenos Aires: Clacso, 2014, p. 109 (Tradução de Lucas Gomes).
[11] HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 18.
[12] DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Nova York, Estados Unidos: Cornell University Press, 2013, p. 68.
[13] HERRERA FLORES, Joaquín, op. cit., p. 19.
[14] “Por mais importante que seja essa luta, dada a função de garantia que o direito pode e deve cumprir, reduzir a prática dos mesmos ao âmbito da norma nos levaria a aceitar como princípio válido a contradição entre racionalidade interna e irracionalidade nas premissas, a qual é a base em todo formalismo.” (Ibidem, p. 155).
[15] Ibidem, p. 19.
[16] HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 38.
[17] Ibidem, p. 61.
[18] HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 158.
[19] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.unicef.org. Acesso em: 01 mai. 2025.
Advogada e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com ênfase em Teorias Jurídicas Contemporâneas, na linha de Sociedade, Direitos Humanos e Arte. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: DUARTE, Ana Luiza Pereira. Do reconhecimento jurídico à falta de efetividade dos direitos humanos para grupos vulneráveis: Uma análise comparativa entre as teorias de Jack Donnelly e Joaquín Herrera Flores Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 20 maio 2025, 04:31. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/68622/do-reconhecimento-jurdico-falta-de-efetividade-dos-direitos-humanos-para-grupos-vulnerveis-uma-anlise-comparativa-entre-as-teorias-de-jack-donnelly-e-joaqun-herrera-flores. Acesso em: 20 maio 2025.
Por: Gabriel Bacchieri Duarte Falcão
Por: Diedre Gomes de Carvalho
Por: Erick Labanca Garcia
Por: SIGRID DE LIMA PINHEIRO
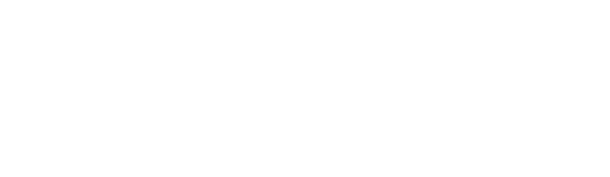
Precisa estar logado para fazer comentários.