

INTRODUÇÃO
A Constituição da República de 1988 representa marco avançado no estudo dos direitos fundamentais. Esta assertiva tem por base o fato de o constituinte ter reconhecido que tais direitos são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Carta Política, consoante estampado no artigo 60, § 4º, em que se assevera a imutabilidade[1] das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais pelo poder constituído.
O disposto no artigo referido é importante para o estudo dos direitos fundamentais, conferindo-lhes estabilidade salutar. Nada obstante, por não se perder de vista que os direitos fundamentais são referidos historicamente, é de se destacar que mudanças podem ser feitas através de consulta popular e a partir de uma interpretação conforme. Esta possibilidade de mutação é necessária, pois é a partir desta que se impede uma ditadura do passado sobre o presente.
Estudar os Direitos Fundamentais em sua perspectiva histórica é essencial, pois é a partir deste referencial que conseguirá entendê-los nas múltiplas dimensões que se apresentam. Sendo assim, referências vitais como a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” e a “Declaração Universal dos Direitos do Homem” necessitam ser explicitadas. Diz-se isto em razão de estas declarações serem marcos avançados do moderno constitucionalismo, como se verá no decorrer do texto.
DIREITOS FUNDAMENTAIS: PARA ALÉM DA IGUALDADE FORMAL.
Falar de direitos fundamentais e de sua referibilidade histórica implica, necessariamente, em se analisar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789[2], editada sob o tripé estrutural da contemporaneidade: liberdade, igualdade e fraternidade.
A declaração sob exame é fruto de intensa evolução histórica, cujo embrião é detectado na Magna Carta de 1215, em que já estavam presentes os elementos essenciais do moderno constitucionalismo: limitação do poder do Estado e a declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana.
A Magna Carta é ponto de partida de um movimento de humanização, fomentado na Idade Moderna pelo Iluminismo e pelo Racionalismo, bases teóricas para as Revoluções Burguesas dos séculos XVII e XVIII: Inglaterra 1688, EUA 1776 e França 1789.
O constitucionalismo moderno, formalmente trazido ao ocidente com a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, nasce junto das aspirações burguesa de liberdade. Tendo-se isto em consideração, é de se perceber marcas indeléveis de omissão estatal em seu momento inicial. Liberdade, nesta quadra de direitos, era sinônimo de absoluta autonomia privada e abstenção[3] do Estado.
Na gênese do constitucionalismo sua essência é individualista. Um marco a caracterizar os Direitos Humanos de Primeira Dimensão, nos quais o dever precípuo do Estado é de abstenção[4] e a propriedade privada representa segurança jurídica salutar.
Com o constitucionalismo o cidadão passa a ser juridicamente livre, pelo que pode buscar recursos como lhe convier. Em seu momento inicial aspira a uma segurança nas relações jurídicas e proteção do indivíduo contra o Estado, pensadas a partir do ideal liberal corporificado nas “Leis de Mercado”.
A Declaração dos Direitos de 1789 foi estruturada sob um tripé ideológico fundamental: liberdade, igualdade e fraternidade. Uma estrutura que se reflete nesta exata ordem na quadra histórica, muito embora, no plano topográfico do texto, apareça em primeiro lugar o Princípio da Igualdade.
A igualdade é referida no inciso I da declaração examinada, dispositivo com o qual se estabelece que “os homens nascem e ficam iguais em direitos” e que “as distinções sociais só podem ser fundamentadas na utilidade comum.”
A noção trazida no inciso I vem para afastar os privilégios decorrentes do status, comuns na “França da Revolução”[5], onde apenas o Terceiro Estado concorria para a manutenção da máquina pública, gozando Nobreza e Clero de uma tranqüila – e inquietante, para a burguesia – situação de não-tributação.
A idéia estampada no inciso que abre esta declaração é recobrada no inciso VI, assim redacionado:
a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou pôr seus representantes à sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer ela proteja , quer ela castigue. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, sendo igualmente admissíveis a todas as dignidades, colocações e empregos públicos, segundo suas virtudes e seus talentos. (destacou-se)
É de se notar que a idéia de igualdade aspirada é meramente formal, porque é nesta nuança que o princípio interessa ao liberalismo. Na medida material, ao contrário, igualdade implica em um agir positivo por parte do Estado, no que vai de encontro às aspirações da burguesia. Por isto, conquanto a igualdade seja referida em mais de uma ocasião, é de fato a liberdade que vem ao encontro do regime querido pelos burgueses.
Liberdade, marco a espancar o Ancien Régime, já que com esta se amoldam as pretensões burguesas de tudo fazer sem que o Estado se imiscua na esfera privada, é elemento estrutural descrito no inciso IV da declaração de direitos em tela. Verbis: “A liberdade consiste em poder fazer tudo quanto não incomode o próximo; assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites senão nos que asseguram o gozo destes direitos. Estes limites não podem ser determinados senão pela lei”. (destacou-se)
A noção de liberdade, como dever de abstenção do Estado, perdurou por muito tempo. À luz do liberalismo, e dos ditames da igualdade formal, mostrava-se simples sua exigência, cujo decorrente necessário, e lógico, era a omissão estatal.
Admitir a liberdade no sentido dos direitos fundamentais de primeira dimensão implica em que o Estado se abstenha completamente da esfera privada. Esta abstenção, como a história relata, redundou em crises sem precedentes, onde iguais se exploravam. Uma exploração que se dava sob o julgo da igualdade formal e da pretensa preservação da liberdade. Uma realidade onde “as leis de mercado” se apresentavam como o grande regulador da atividade social.
As crises históricas decorrentes do liberalismo, cujo marco mais acentuado é o crack da Bolsa de Nova Iorque em 1929, mostra-nos que a liberdade, conquanto direito fundamental, não é absoluta. Precisa ser vista de acordo ao momento histórico e sopesada à luz de outros direitos fundamentais.
A realidade é dinâmica. Dinâmica também é a estrutura dos Direitos Humanos e Fundamentais. Por isto as idéias correntes no século XVIII e XIX que davam corpo ao ideário burguês – laissez faire, laissez aller, laissez passer –, a ocasião estavelmente unidas ao movimento dos Direitos Fundamentais, hoje se afiguram divorciadas. Separadas de fato em razão do compromisso de direito que o Estado assume com o social.
O “deixai fazer, deixai ir, deixai passar”, pano de fundo da primeira dimensão de Direitos Humanos e Fundamentais, acabou por ser o locus onde a exploração do igual pelo igual se tornou possível e legitimada. Nesta medida o passar dos tempos trouxe uma mudança de paradigma. Uma alteração que muito tem a ver com a aparente paradoxidade que caracteriza os Direitos Fundamentais, em que, para se assegurar cada vez mais igualdade (na sua nuança material) foi necessário se abrir mão de parte da liberdade. Começou-se a perceber que a atuação do Estado não era necessariamente ruim, mesmo que recomendada como regra.
Recobrando o texto da Declaração de Direitos, importante se mostra o entendimento de seu inciso XII, onde se estabelece que “a garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita da força pública; esta força é instituída pela vantagem de todos e não para a utilidade particular daqueles aos quais foi confiada.”
O que se percebe no inciso colacionado é o espírito da legalidade com os olhos voltados para a fraternidade. Fica claro que os Direitos Fundamentais são questões de ordem pública – já que necessitam de força pública – e se voltam para todos.
As noções depreendidas da Declaração de Direitos de 1789 são essenciais para um adequado entendimento dos Direitos Humanos Fundamentais. Importante também são as lições encontradas na “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, que representa uma nova dimensão se comparada á declaração anterior em razão dos grandes filtros por que passou: Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918), Constituição Mexicana (1917), Constituição de Weimar (1919), quebra da bolsa de Nova Iorque (1929), e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, travada entre os anos de 1939 e 1945.
Os grandes filtros destacados, aliados à relevante “Doutrina Social da Igreja” podem ser facilmente percebidos nas considerações que abrem a Declaração dos Direitos do Homem:
CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,
CONSIDERANDO que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade,
CONSIDERANDO ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão,
CONSIDERANDO ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,
CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla,
CONSIDERANDO que os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades,
CONSIDERANDO que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso[6]. (destacou-se)
Como se depreende das considerações que precedem à declaração de 1948, o progresso social e a busca por melhores condições de vida devem ser vistos sob a ótica de uma liberdade mais ampla, o que se mostra possível quando a dignidade, inerente a todos os membros da família humana, e a igualdade são vistas como direitos inalienáveis. Pontos de partida para uma efetiva justiça e paz social.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem fez consubstanciar, além dos direitos e garantias individuais, direitos sociais, isto é, aponta para algumas prestações positivas do Estado de modo a garantir condições de uma vida digna para cada indivíduo, no exato sentido do que percebeu Bobbio[7].
As cartas colacionadas são as bases mais sólidas para a compreensão dos Direitos Fundamentais. No Brasil, em que pese a importância vital destes textos, as noções neles contidas só foram assimiladas no plano legislativo com a Constituição da República de 1988. Um descompasso que se explica nas intercorrências históricas pelas quais passamos, destacando-se o Golpe de 1964.
Os Direitos Fundamentais na realidade brasileira têm muito para desenvolver. É preciso que superemos certas formalidades e abramos mão de alguns (pré)conceitos. Uma hermenêutica adequada se faz necessária para garantir a unidade do texto, que é soberano. É soberano e representa um avanço sem precedentes em nossa historia, motivo pelo qual a propalada Revolução Copernicana[8] precisa se fazer efetiva. É necessário que o arraigado positivismo dê lugar a uma Constituição de fato normativa e auto-aplicável. Não mais se afigura legítimo que a as normas constitucionais fiquem à mercê de regulamentação, como se meros programas fossem. Fazer isto, ao contrário de assegurar a efetividade pretendida, seria agir de forma absolutamente napoleônica[9], recobrando uma noção liberal já superada.
Dentro deste quadro de dicotomia entre o querido pelo texto constitucional, que se faz normativo, e o assegurada pela prática, encontra-se o preceito da Função Social. Assim é que o professor Roberto Barroso[10] sustentou em sua obra (datada de 1993, e já revisada) que Função Social era norma programática.
A lição de Barroso foi trazida à lume em razão do destaque de que desfruta o autor no meio acadêmico. Nada obstante, dentro do espírito da chamada Revolução Copernicana, não faz sentido se negar efetividade ao texto constitucional. Esta revolução implica, sobretudo e necessariamente, que se possa tirar do texto sua normatividade.
Por não se coadunar com espírito da Constituição a alegação de mero programa, grande parte da doutrina assenta que a Função Social é cláusula auto-aplicável. Neste sentido é a lição de Ana Prata, que se recusa a aceitar a concepção generalista a afirmar ser a Função Social proposição “sem conteúdo normativo e preciso”[11]. Sua lição vai ao encontro do preconizado por Eros Grau, que nega a idéia de mero programa por temer a redução da Constituição a “papel pintado com tinta”[12]. Igual temor encontramos na lição de Comparato, para quem a Constituição não pode ser mero “manual doutrinário”[13] ou “repositório de máximas ou conselhos”[14].
Visto que a Constituição é normativa, pressuposto para se assegurar os Direitos Humanos e Fundamentais, mostra-se producente se colacionar a lição de Celso Ribeiro Bastos, que, comentando os Direitos Individuais, assim elucida o texto constitucional:
Logo no início, são proclamados os direitos pessoais do indivíduo: direito à vida, à liberdade e à segurança. Num segundo grupo encontram-se expostos os direitos do indivíduo em face das coletividades: direito à nacionalidade, direito de asilo para todo aquele perseguido (salvo os casos de crime de direito comum), direito de livre circulação e de residência, tanto no interior como no exterior e, finalmente, direito de propriedade. Num outro grupo são tratadas as liberdades públicas e os direitos públicos: liberdade de pensamento, de consciência e religião, de opinião e de expressão, de reunião e de associação, princípio na direção dos negócios públicos. Num quatro grupo figuram os direitos econômicos e sociais: direito ao trabalho, à sindicalização, ao repouso e à educação.[15] (destacou-se)
Colisão entre Direitos Fundamentais pode ocorrer em diversos planos. A primeira possibilidade se consubstancia quando um mesmo Direito Fundamental de defesa se apresenta titulado por diferentes pessoas. Assim é o caso da manifestação política ou do direito de culto, que podem ser externados em locais públicos. Quando manifestados em momentos distintos, nenhum problema surge. Questionamentos são possíveis quando a manifestação se opera no mesmo instante. O Estado, a priori, não deve se imiscuir na manifestação. Do momento que a manifestação de “a” vai de encontro à de “b”, contudo, este direito de defesa pode ser mitigado.
Na segunda hipótese encontram-se os casos onde um mesmo direito fundamental é visto pelo titular “a” como sendo de defesa e pelo titular “b” como sendo de proteção.
A terceira possibilidade de colisão deriva do fato de muitos direitos fundamentais possuírem dimensão positiva e negativa a um só tempo. Na questão política e religiosa, vistas anteriormente na perspectiva positiva, surge também uma noção negativa, já que ninguém pode ser compelido, num Estado laico, a professar determinado tipo de fé ou se filiar a alguma organização partidária.
A quarta hipótese de colisão, que em nosso sentir apresenta uma valoração em relação às demais, consubstancia-se quando se acrescenta uma dimensão fática ao choque. Podemos citar como exemplo as situações onde o fomento aos hipossuficientes poderá acarretar tratamento juridicamente desigual aos abonados. Fomentar determinado grupo significa tratar aos demais desigualmente.
No sentido do que se viu na quarta possibilidade de choque entre direitos fundamentais, o princípio da igualdade assume dimensão fático-jurídica, pelo que implica em se enfrentar o paradoxo que lhe é inerente. Não o era na primeira dimensão de Direitos Fundamentais, quando assumia a porção meramente formal. Mas se evidencia nos dias de hoje, em que a visão material do conceito precisa ser enfrentada.
O paradoxo da igualdade é uma colisão que se apresenta de forma mais acentuada no chamado Estado de Social. Neste sentido se mostra producente delinear o preâmbulo da Constituição da República de 1988, onde se aponta que da reunião do povo brasileiro em Assembléia Nacional Constituinte se instituiu um Estado Democrático de Direito visando a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais como valores supremos. Disto se nota que na organização política brasileira há a concomitância entre Estado Social e Estado Democrático de Direito, possíveis apenas com o advento da Carta Política vigente.
A noção de igualdade material, relevante quando se está diante de um Estado Social, aduz a temas de ordem mais complexa, como a noção de justo. Com isto se retoma as inquietações que culminaram no “a cada um o que é seu”[16] de Aristóteles.
A proposta aristotélica, sem qualquer dúvida, perpassa a idéia de igualdade. Justo seria conferir igualdade – de possibilidades, entenda-se – para que os indivíduos possam ser diferentes.
A partir do exposto uma questão surge. É necessário se sedimentar um conceito de (des)igualdade para o desenvolvimento da noção do justo. É preciso se adequar à igualdade inserida na ordem jurídica a desigualdade da afirmação. Nesta linha de raciocínio “a desigualdade torna-se um instrumento de igualdade pelo simples motivo de que se corrige uma desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades”[17].
Ao se pensar igualdade material[18], além de não-discriminar arbitrariamente, deve o Estado propiciar igualdade de oportunidades por meio de políticas públicas, atendendo as especificidades de grupos menos favorecidos, compensando desigualdades decorrentes do processo histórico e de sedimentação cultural.
Na linha percorrida ganha importância o Estado Social, negando-se, via de conseqüência, a neutralidade estatal. Nesta perspectiva, afigura-se necessário se lançar mão de políticas públicas que almejem à igualdade de oportunidades, ainda que necessário se estipular benefícios compensatórios. Como aponta Canotilho, uma função de não-discriminação dos direitos fundamentais:
Uma das funções dos direitos fundamentais ultimamente mais acentuada pela doutrina (sobretudo a doutrina norte-americana) é a que se pode chamar de função de não-discriminação. A partir do princípio da igualdade e dos direitos de igualdade específicos consagrados na constituição, a doutrina deriva esta função primária e básica dos direitos fundamentais: assegurar que o Estado trate seus cidadãos como cidadãos fundamentalmente iguais. (...) É com base nesta função que se discute o problema das quotas (ex.: parlamento paritário de homens e mulheres) e o problema das affirmative actions tendentes a compensar a desigualdade de oportunidades (ex.: quotas de deficientes).[19]
Dentro da nova função a ser exercida pelos direitos fundamentais, ganha corpo a idéia da necessária discriminação positiva. Ao lado da discriminação negativa, prescrita pelo ideário liberal, ganha força no Estado Social a tese da discriminação positiva. Uma necessidade para que se supere a situação de desvantagem imposta aos indivíduos em razão de sua origem étnico-social.
Nessa nova função dos direitos fundamentais, o segundo conceito de igualdade absorve e amplia o primeiro. Igualdade formal e material são, assim, manifestações do princípio da isonomia em gerações sucessivas de direitos fundamentais.
Tratando do compromisso constitucional, aponta a ministra Carmen Lúcia para a dimensão assumida pelo Princípio da Igualdade na Constituição, criando-se isonomia mais rigorosa e diretamente relacionada à materialidade:
Verifica-se que todos os verbos utilizados na expressão normativa – construir, erradicar, reduzir, promover – são de ação, vale dizer, designam um comportamento ativo. O que se tem, pois, é que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são definidos em termos de obrigações transformadoras do quadro social e político retratado pelo constituinte quando da elaboração do texto constitucional[20]. (destacou-se)
Além do evidente compromisso principiológico assumido, o legislador constituinte foi explícito em criar regras com claro conteúdo de discriminação positiva, exemplo do estampado no artigo 37, VIII, onde se lê que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. Trata-se de política distributiva que resgata os deficientes de um histórico processo de exclusão.
APONTAMENTOS FINAIS
Igualdade material é um desdobramento do “Princípio da Igualdade” em uma nova dimensão dos direitos fundamentais. A um só tempo veda o tratamento discriminatório, no que se coaduna com a igualdade formal, e preconiza a implementação de políticas públicas tendentes à superação das desigualdades fáticas.
A noção de igualdade material desponta junto do Estado Social, marcado por uma diferença de postura frente a (des)igualdade. Uma nova postura que visa equalizar a dinâmica social como parte do compromisso estatal de realização da dignidade.
Pelas razões aduzidas, é preciso se entender as ações afirmativas como uma possibilidade coerente de realização da igualdade material. É preciso se ter claro que tratar desiguais sem se reconhecer a desigualdade pode levar a um perverso sistema de seleção natural. Colocar dois corredores para disputarem uma prova quando tiveram acesso à oportunidade de treinamento assemelhado é algo salutar. Não se pode dizer o mesmo, todavia, se um dos corredores não pôde treinar, está atrofiado, tem algum tipo de deficiência etc.
É preciso, pois, se entender a igualdade como a possibilidade de conferência de um ponto de partida comum. Não se quer a chegada comum (aventada por algumas correntes comunistas), mas também não se pode querer uma total abstenção estatal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.
BASTOS, Celso Ribeiro. A reforma da Constituição: em defesa da revisão constitucional. Teresina: Jus Navigandi. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=141> Acesso: 26 setembro 2010..
______. Curso de Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
______. Igualdade e Liberdade. 2. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 1997.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: Almedina, 1999.
COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.
GRAU, Eros Roberto. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
HISTÓRIA dos Direitos Humanos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Natal: Direitos Humanos na Internet. Disponível em: <www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1789.htm> Acesso: 16 setembro 2010..
______. Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Natal: Direitos Humanos na Internet. Disponível em: <www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm> Acesso: 01 outubro 2010..
LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: Desafios à Democracia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998.
STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
PRATA, Ana. A Tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Almedina, 1982.
ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa. O Conteúdo Democrático do Princípio da Igualdade Jurídica. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, n. 15, 1996.
ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995.
VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2001.
[2] HISTÓRIA dos Direitos Humanos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Natal: Direitos Humanos na Internet. Disponível em: <www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1789.htm> Acesso: 16 setembro 2010.
[3] Como observado, enquanto direitos de defesa, os direitos fundamentais asseguram a esfera de liberdade individual contra interferências ilegítimas do Poder Público, provenham elas do Executivo, do Legislativo ou, mesmo, do Judiciário. Se o Estado viola esse princípio, então dispõe o indivíduo da correspondente pretensão que pode consistir, fundamentalmente, em uma: (1) pretensão de abstenção (Unterlassungsanspruch); (2) pretensão de revogação (Aufhebungsanspruch); (3) pretensão de anulação (Beseitigungsanspruch). (destacou-se) MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, p. 33.
[4] A noção de propriedade privada sobeja justamente por ser a partir de dela que se vislumbra um afastamento do Estado da esfera do particular. Uma resposta à formatação absolutista vivida, na qual o Estado constituía-se em empecilho ao exercício das liberdades individuais da maioria da população.
[5] Havia 25 milhões de franceses ao tempo da Revolução. O clero tinha cerca de 120 000 religiosos, constituindo-se no primeiro estado. A nobreza constituía, com 350 000 membros, o segundo estado. O terceiro estado compreendia 98% da população. Cf.: VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2001.
[6] HISTÓRIA dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Natal: Direitos Humanos na Internet. Disponível em: <www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm> Acesso: 01 outubro 2010..
[7] BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.28.
[8] “Houve a passagem de uma fase em que às normas constitucionais era imprescindível a interposição legislativa a uma fase em que são aplicáveis às situações do dia-a-dia, resultando em uma justiça constitucional estruturada e legitimada.” Jorge Miranda. Apud. STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 31.
[9] O comentário de José Rocha, tratando da questão da propriedade, mostra-se pertinente neste quadro em que se tem o discurso da Revolução Copernicana e uma pratica Napoleônica. Uma realidade onde Decreto cria prática e se faz efetivo, Medida Provisória se mostra bastante em si e ainda temos doutrinadores a negar conteúdo prático à Constituição: “... deixada sem eficácia pelo Judiciário que continua aplicando o velho Código Civil, ancorado, rigidamente, aos princípios do individualismo jurídico do século passado, consagrados no Código de Napoleão, de que o nosso é um desenvolvimento, para dirimir os conflitos de caráter social tendo por objeto o direito de propriedade, inclusive com a concessão sistemática de medidas liminares em ações possessórias para despejar favelados e posseiros, liminares que, tendo natureza satisfativa, são marcadamente inconstitucionais por ferirem os princípios do contraditório e do devido processo legal, ambos garantias fundamentais da pessoa humana previstas na Constituição.” ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, 139.
[10] BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 155.
[11] PRATA, Ana. A Tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 175.
[12] GRAU, Eros Roberto. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 124.
[13] COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 27.
[14] Ibidem.
[15] BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 174/175.
[16] Cf.: ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
[17] BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. 2. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 1997, 32.
[18] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 400.
[19] Idem., p. 385.
[20] ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa. O Conteúdo Democrático do Princípio da Igualdade Jurídica. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, n. 15, 1996, p. 92.
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: SIQUEIRA, Alesssandro Marques de. Direitos fundamentais. Para além da igualdade formal Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 16 out 2010, 02:00. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/21855/direitos-fundamentais-para-alem-da-igualdade-formal. Acesso em: 25 abr 2025.
Por: Erick Labanca Garcia
Por: LEONARDO RODRIGUES ARRUDA COELHO
Por: Diogo Marcelo de Oliveira Bordin
Por: CARLOS FREDERICO RUBINO POLARI DE ALVERGA
Por: LEONARDO RODRIGUES ARRUDA COELHO
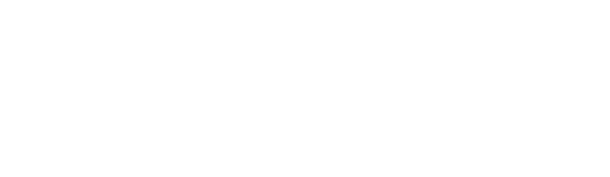
Precisa estar logado para fazer comentários.