

RESUMO: Cuidou o presente artigo de tema bastante polêmico: a transexualidade. Uma análise elaborada a partir da Constituição da República e sempre voltada para o intercâmbio do direito com as demais disciplinas. Foi observado que o tema não se encontra regulamentado pelas leis brasileiras, havendo apenas projetos. Algumas divergências foram ressaltadas, especialmente quanto ao entendimento jurisprudencial da matéria. Assim, há decisões que contemplam as aspirações dos transexuais em sua totalidade, enquanto outras ressaltam a total impossibilidade destas. Critérios de identificação sexual foram trazidos para o corpo do texto, uma vez que a Constituição fala em homem e mulher sem dizer de qual critério está se utilizando. Por isto referências cromossômicas, psíquicas e antropológicas foram discutidas, já que implicam conseqüências distintas. Os critérios anunciados foram analisados sem se perder de vista que a Pessoa Humana deve ser vista a partir da Dignidade e dos Direitos da Personalidade. Em razão deste enfoque, alguns aspectos essenciais foram ressaltados, sobretudo igualdade, racionalidade e autonomia.
PALAVRAS CHAVES: Dignidade da Pessoa Humana, Direitos da Personalidade, Transexualidade.
ABSTRACT: The object of the present article is the transexuality. An analysis prepared from the Constitution of the Republic and always dedicated to the exchange of duty with the other disciplines. It was observed that the issue is not regulated by Brazilian law, but only projects. Some differences were spread, especially on the understanding of the subject in Cases. Thus, there are decisions that include the aspirations of transexuais in its entirety, while others emphasize the total inability of these. Criteria for identifying sexual were brought into the body of the text, since the Constitution talks about man and woman, without saying what criterion is used. Thus references chromosome, psychological and anthropological were discussed, as they involve different consequences. The criteria were analyzed announced without losing sight of the Human Being must be seen from the Dignity and Rights of Personality. Because of this approach, some essential aspects were highlighted, particularly equality, rationality and autonomy
KEYWORDS: Dignity of the Human Being, Rights of Personality, Transexuality
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana tem bases no pensamento clássico[1] e no ideário cristão[2]. A uma porque o Ser Humano possui “natureza individual racional”[3]. A duas porque teria sido criado à imagem e semelhança de Deus.
Definir Dignidade da Pessoa Humana é complexo. Nada obstante, algumas noções se mostram convergentes: a) a felicidade[4] é o fim do Ser Humano; b) o direito surge do homem e para o homem; e, c) a Dignidade está fora do contexto do que pode mensurar na esfera econômica, sendo parcela essencial dos Direitos da Personalidade, aludindo à integridade física e psíquica.
Ao se tratar da transexualidade, é preciso se enfrentar, necessariamente, o conceito de Dignidade da Pessoa Humana, já que a pessoa transexual associa sua felicidade a uma configuração física diferente daquela com que nasceu. Uma aspiração que não pode ser ignorada pelo direito, já que configuraria negação da realidade psíquica, lócus da racionalidade.
Resolver a aspiração psíquica parece ser o caminho que o direito deve trilhar, já que não se pode mudar a mente. Um caminho que deve ser trilhado com os olhos voltados para racionalidade e autonomia, que são marcos essenciais da Dignidade da Pessoa Humana. Este tem se mostrado o único caminho seguro para se enfrentar o tema na perspectiva constitucional.
Assente que a racionalidade deve ser respeitada, parece acertado se dizer que à cirurgia de transgenitalização (veículo a permitir a fusão entre físico e psíquico) devem ser reconhecidos efeitos juridicos, sobretudo aqueles associados aos Direitos da Personalidade. Esta é a resposta correta a ser ofertada pelo sistema jurídico, que se propõe integrador e se diz baseado na Dignidade da Pessoa Humana.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DIREITOS DA PERSONALIDADE E TRANSEXUALIDADE
Dignidade vem do latim digna[5], anunciando o que é merecedor, considerável etc. Significa também, como adjetivo derivado de decet ou decere, cargo ou honraria. É, ademais, pressuposto da idéia de justiça, pois dita a condição superior do homem como ser de razão e sentimento, sendo inerente à vida e precedente ao Estado. Por isto, qualquer demanda que envolva pessoas, especialmente o status pessoal, deve ser enfrentada a partir de si. Configura, então, a qualidade intrínseca[6] e distintiva do Ser Humano.
O Ser Humano possui como objetivo essencial, ser feliz. Uma felicidade que é realizada quando sua autonomia é reconhecida e é permitida a sua realização. Não se pode pensar felicidade, portanto, sem o efetivo respeito da autonomia, sendo o exercício desta um pressuposto. Um exercício que deve ser respeitado para que a Dignidade seja mais que retórica. Para que seja evidenciado pelo ordenamento que é da esfera pessoal decidir os rumos que serão dados à própria vida no afã de ser feliz.
Tendo-se por assente que a realização da felicidade pelo exercício da autonomia se associa ao regime da Dignidade da Pessoa Humana, de que é correlata a racionalidade, parece acertado se dizer que o direito deve se voltar para o homem, como precípua missão estatal[7]. O direito deve se voltar para o homem para que se legitime e encontre sua razão de justificação. Uma justificação baseada, em especial, na igualdade. Não uma igualdade qualquer, mas uma isonomia que parta dos sucedâneos lógicos da Dignidade da Pessoa Humana: racionalidade e autonomia. Esta deve ser a igualdade pretendida pelo direito no seu afã de dar uma resposta correta às demandas sociais.
Resta claro hoje em dia que o direito não é fim em si próprio. Sua finalidade é permitir a realização da Pessoa Humana, que sendo seu fim lhe antecede. Deve, portanto, se aparelhar para permitir que as pessoas possam se realizar na sua plenitude, cuidando para que, em nome de uma preservação do sistema, não se incida em práticas de sectarismo e de comprometimento da igualdade.
Como o fim do direito é a Pessoa Humana, é preciso se reconhecer as prerrogativas decorrentes da Dignidade, mas, sobretudo, permitir a realização de seus sucedâneos. Do contrário, ter-se-á um Estado vazio em seus propósitos.
A problemática do transexual é destes temas cada vez mais recorrentes na sociedade múltipla que vivenciamos, onde, cada vez mais, um numeroso quantitativo de pessoas tem exercido o sentimento de pertença a gênero diferente do que aponta o sexo cromossômico. Este sentimento de pertença vem suscitando grande interesse, integrando a pauta de discussões de médicos, psicólogos e juristas.
A Dignidade da Pessoa Humana é o cerne do direito. Resta claro, por este motivo, que é seu dever se organizar para que a Dignidade seja exercida na sua plenitude. Assim – como a Dignidade aponta para racionalidade e autonomia, essencialmente – o direito deve fornecer meios para que as deliberações, tomadas racionalmente por pessoas, possam ser efetivadas dentro do aspecto autônomo de que todas gozam.
A necessidade de instrumentalização do direito para permitir o exercício das prerrogativas correlatas à Dignidade é uma das questões que devem ser pensadas com grande cuidado, pois não se podem ignorar as demandas advindas da sociedade. O Poder Judiciário, ao atender o que não foi previsto no plano Legislativo, deve procurar realizar os Direitos Humanos e os Direitos da Personalidade como suposto de legitimação.
Quando se diz que ao transexual se negou a adequação de nome e de sexo, quem conta a história é um juiz ou desembargador. Dificilmente se terá a oportunidade de ouvir ou ler a perspectiva de quem teve a aspiração negada pelo ordenamento jurídico. Por ser assim, dificilmente será possível se saber o que de fato se passa. A pessoa, perdida em pensamentos e aspirações, sairá perdedora, já que sua orientação não será reconhecida pelo sistema.
Ora, se o fim do direito são pessoas, não pode um instrumento do direito, o juiz, se arvorar da condição de negador de realidades. Quando o mundo todo se abre para uma nova possibilidade, o direito também deve fazê-lo, sob pena de este se perder[8]. O direito não pode pretender ser seu fim, porque, enquanto assim foi, serviu legitimamente a barbáries.
A sociedade brasileira tem por base a Dignidade da Pessoa Humana, portanto, o direito precisa se vestir deste princípio. O que se constata, todavia, é uma não-incorporação fática à realidade jurídico-social. Há distorções das mais variadas e, por mais que se fale em virada paradigmática, parece acertado se dizer que esta virada é formal. Caso fosse material o direito deveria ser lido a partir da Pessoa Humana, mas não é isto que ocorre. A Pessoa Humana ainda é, na realidade jurídica brasileira, aquilo que o direito concebe. Com isto, embora o sistema infraconstitucional devesse sempre ser lido a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, é comum se ver na prática situações em que o possível entendimento constitucional é preterido em nome da segurança (na verdade pretensa certeza) do Direito Positivo e do mecanismo subsuntivo que este possui.
Não há direito sem pessoas, já que este existe para regular a vida dos homens em sociedade. O homem é ser social, como dizia Aristóteles. Por isto mesmo, por mais que os Direitos da Personalidade digam com aspirações da ordem individual, não há como se negar a necessidade dialógica entre individual e coletivo. Tal consideração é aposta porque tais direitos, em sua gênese, estavam associados tão-somente ao indivíduo. Mais ainda. Estavam associados aos bens que este indivíduo possuía.
Embora não se possa pensar um direito desligado da realização das pessoas, é fato que o movimento de codificação não partiu desta premissa. Por isto mesmo, não é exceção a existência de regras positivadas que atendem mais à matéria que ao humano no que ele tem de substancial. Conquanto formalmente isto seja negado, na prática ainda existem categorias[9] de personalidade, tal como no mundo grego e sua consideração de que apenas indivíduos determinados seriam ouvidos, já que não se dava máscaras a todos, e estas eram o instrumento pelo qual ressoava a voz do ator, conferindo-lhe um papel.
O marco divisor do Direito Civil quanto à codificação é o Código Napoleão, publicado em 1804. Inspirado nos ideais racionalistas do Iluminismo não separou em dispositivo específico qualquer Direito da Personalidade. Foi considerado, ainda assim, completo pela Escola da Exegese, que o tinha por ordenamento sistemático e sem lacunas.
O primeiro diploma a positivar especificamente os Direitos da Personalidade foi a Lei Romena de 18 de março de 1895[10]. Em 1900 entra em vigor o Código alemão, que cuida do Direito ao Nome[11]. Em 1907 é publicado o Código Civil Suíço[12], que em seus artigos 29 e 30 aponta também para a necessidade de preservação do nome, atributo da personalidade humana.
A partir da vigência do Código Civil Italiano[13], em 1942, confere-se nova ênfase aos Direitos da Personalidade[14]. Em seis artigos do livro I, o diploma em comento cuida delle personne e della famiglia. Regulamenta, com isto, vários aspectos da personalidade, a saber: direito ao próprio corpo (art. 5º), direito ao nome (art. 6º) e sua tutela (art. 7º), sua tutela por razões familiares (art. 8º), direito ao pseudônimo[15] [16] (art. 9º) e direito à imagem, registrado no artigo 10.
Nos últimos tempos, nova etapa tem sido desenhada no que concerne aos Direitos da Personalidade. Trata-se da tutela específica destes direitos, que tem sido feita em capítulo próprio. Nesta direção caminharam o Código português de 1966 e o Código Civil brasileiro em vigor.
O tratamento dos Direitos da Personalidade em capítulos próprios, como ocorre com nosso código brasileiro vigente, parece salutar. Não que a tutela conferida pela Constituição seja precária. Não se trata disto. Não se pode perder de vista, contudo, que, desde o Positivismo Jurídico, direito equivale à lei. Parece correto se afirmar que tivemos verdadeira revolução doutrinária no sentido da consideração da força normativa dos princípios, sobretudo os inscritos em sede constitucional. É certo também, todavia, que esta mudança não é pacífica na prática jurídica.
Nas hipóteses de transexualidade a consideração anterior, de aspiração positivista, fica clara. Não há qualquer dúvida que ao transexual se nega Direitos da Personalidade. Não há qualquer dúvida, também, de que a estrutura constitucional pode permitir uma leitura do tema visando à integração social, que se faz correlata à Dignidade e a solidariedade. Conquanto não restem dúvidas da possibilidade de leitura constitucional do tema, não é apenas isto que a realidade consagra. Em verdade, muitos julgados procedem de forma a dizer que o transexual operado é o nada, já que não mais é homem e não pode ser mulher, e vice-versa. Certamente esta leitura não encontra abrigo na Constituição, mas se mantém na leitura genofenotípica do Ser Humano. Uma leitura a partir da qual só seria Pessoa Humana (em todas as acepções que o termo pode assumir) a que tivesse um genótipo condizente com o fenótipo.
Ler o Ser Humano a partir de sua configuração corporal é negar sua condição de Digno. Afirmamos isto porque são a racionalidade e a autonomia que lhe conferem o lócus especial na escala dos seres. Racionalidade e autonomia que o tornam Digno. Por ser assim, quando o Ser Humano é visto a partir do corpo, e não da mente, ele é apenas mais um animal. Um animal que, embora racional, é visto pelo sistema sem se considerar esta variável.
A negação da realidade racional pela leitura biologizante do corpo é possível porque o sistema a viger no Brasil quanto ao julgamento é o do “Livre Convencimento Motivado”. Certamente a motivação pretendida pelo constituinte originário deveria estar na própria Constituição e no que esta consagra. Na prática, todavia, falam os conceitos e preconceitos dos julgadores. Eles estão livres para dizer qualquer coisa quando não há um parâmetro objetivo positivado.
Do que se expôs, ainda que se possa defender a não-necessidade da tutela dos Direitos da Personalidade na perspectiva codificada (em vista da chamada virada copernicana que impõe uma leitura do sistema à luz da constituição, logo, da Pessoa Humana), vemos com bons olhos o resguardo de um espaço próprio e positivado para o tratamento de tais direitos. Pode ser que evoluamos para um momento de material revolução copernicana. Enquanto isto, ainda é bom um código, ou mesmo leis esparsas, que elucide o espírito constitucional. É até provável que a resposta do Legislativo não seja absolutamente correta, mas, pelo menos, goza de legitimidade democrática direta, o que não se diz da resposta do Judiciário contrária ao espírito constitucional.
O Código Civil de 2002, ao tratar dos Direitos da Personalidade, inova na ordem infraconstitucional brasileira. A tutela oferecida por este diploma aos direitos em comento é absolutamente nova em relação ao regime depreendido do código revogado. Uma mudança através da qual se insere a temática em capítulo próprio.
A inovação no plano infraconstitucional não é exatamente uma novidade na realidade brasileira, já que a Constituição da República Federativa de 1988 traz uma proteção que é, em si, até mais abrangente. Nada obstante, é de se considerar o aspecto trazido pelo novo Código Civil, já que, conquanto tenhamos um discurso que prime pela capacidade normativa dos princípios, nossa prática ainda é marcada por regras. Desta forma, sabendo que a realidade é esta, toda e qualquer alteração que venha para explicitar o conteúdo constitucional é bem vinda.
Os Direitos da Personalidade são inerentes à pessoa e a necessária Dignidade que desta decorre. Disto surgem cinco marcos fundamentais: a) vida; b) honra; c) imagem; d) nome; e, e) intimidade. Marcos que se irradiam nas mais variadas projeções, sendo irrenunciáveis[17] e intransmissíveis[18].
À temática desenvolvida, interessa, com relevo, as referências do artigo 13[19] do Código Civil, pelo qual se impede a disposição de parte do corpo. O artigo sob exame, marcado por um discurso médico legitimante, aponta que, havendo exigência médica, não se discute a segunda parte do comando legal.
A associação do artigo colacionado com a transexualidade é clara. Exatamente por isto entendeu o corpo de juristas participantes da I Jornada do Conselho da Justiça Federal que a idéia de bem-estar psíquico deve ser trazida à discussão. Sendo assim, não apenas integridade física interessa ao tema. É preciso se ter integridade psíquica, sobretudo porque é na psique que se realiza a pessoa, e não na configuração dos órgãos genitais.
Como se pode perceber, a previsão no Código Civil é importante para os Direitos da Personalidade, mas não encerra o assunto. Consideramos a importância da previsão por termos consciência que a prática jurídica no Brasil é marcada pela confluência de regras. Conquanto o discurso da máxima cogência e normatividade seja da seara comum, a prática é de um direito subsuntivo. Sendo assim, vemos com bons olhos o processo de positivação dos Direitos da Personalidade em código[20].
Direitos da Personalidade, e os marcos que deste decorrem (vida, honra, imagem, nome e intimidade) estão associados, sem qualquer dúvida, ao tema sexualidade, também inerente à condição humana. Por isto sexualidade deve ser pensada com cautela, com os olhos voltados para a realização de racionalidade e autonomia, e não mais apenas para as funções procriativas. Diz-se isto porque não se pode perder de vista que o local especial na escala dos seres não é decorrência do aspecto biológico, e sim do psicológico.
Pensar em sexualidade na quadra contemporânea – marcada por discursos variados, mas imbricada por valores com aspirações lineares – é uma necessidade que decorre da reflexão sobre o próprio direito. Uma reflexão que parte da liberdade para se chegar à garantia, da igualdade para alcançar diversidade e da fraternidade para se obter solidariedade.
A partir de uma perspectiva multidimensional, que é a face da contemporaneidade, todas as questões carecem ser repensadas. Entre estas deve ser pensada, também, a sexualidade e o exercício que desta se faz. É preciso se desenvolver vários sentimentos, entre eles, de forma especial, o sentimento republicano. Faz-se necessário que nos voltemos para garantia, diversidade e solidariedade e nos esqueçamos dos dogmas, sobretudo quando estamos a falar em nome do Estado, que é plural e laico. É de se dizer, de uma vez por todas, a que(m) estamos servindo. Isto é fundamental para não sermos meros repetidores do senso comum. Para não contribuirmos para a exclusão e o sectarismo em razão da repetição de dogmas sem qualquer grau de reflexão.
Repensar certas estruturas nos impele a refletir sobre o papel estatal, e nisto se inclui os papéis desempenhados por todos os atores sociais. Atores a que a ordem jurídica empresta máscaras – uma vez que todos seriam iguais perante a lei, portanto, dignos e dotados de direitos correlatos à personalidade –, mas muitas vezes nega voz.
No afã de se superar qualquer possibilidade sectarista, o questionamento apresentado acerca da conceituação sexual deve ser recobrado. É preciso se sedimentar um conceito de sexo que condiga com um Estado multifacetado e agregador. Um Estado que se pretenda agregador e solidário, no exato sentir do texto constitucional, denominado cidadão.
Pensar na sexualidade humana induz a que enfrentemos o conceito de sexo. Um questionamento, então, se faz premente: qual o “conceito de sexo”[21] se deve adotar? O biológico ou o psicológico[22]? Sabendo-se que há meios de se observar o tema, porque restringir a reflexão ao conceito biológico, como querem muitos?
O viés biológico, apreendido pelo direito como sendo o sexo jurídico, é apenas uma forma de se ver a sexualidade. É de se considerar, por isto mesmo, outras variantes, em especial a psicológica ou psicossocial. Tal consideração é aposta em razão da necessidade de se reforçar, sempre, que o Ser Humano é muito mais que corpo biológico. É racional e sua racionalidade não pode ser mitigada. Do contrário, ter-se-á que o discurso da Dignidade da Pessoa Humana não é mais que papel e tinta. É cláusula vazia que cabe tudo e, por isto mesmo, não comporta nada.
A conceituação jurídica de sexo é feita a partir da observação da genitália externa do recém-nascido, de onde decorrerá o sexo que constará no Registro Civil: masculino ou feminino. Este conceito, cunhado a partir da superação da doutrina do sexo único, ainda se mantém no imaginário de muitos juristas brasileiros. É bastante comum, por isto mesmo, encontrarmos decisões que ressaltem esta conceituação em detrimento[23] dos discursos da psicologia, da medicina e da antropologia.
Quando se pensa na temática da transexualidade, mostra-se improvável não se pensar nos conceitos de sexo e nome civil. Dizemos isto porque é no Registro Civil de Pessoas Naturais que, em última análise, o “direito se dirá”[24]. Por mais que a Resolução do Conselho Federal de Medicina afirme ser prerrogativa médica diagnosticar a transexualidade, é no direito que os reflexos da cidadania serão pleiteados.
Não restam dúvidas de que a denominação a partir do viés meramente biológico não atende à pessoa em sua plenitude, pois não é em cromossomas[25] que se afere Dignidade. Por este motivo, soa desarrazoada a proposição que nega a adequação de nome e de sexo com embasamento biológico, ainda mais se se considerar as possibilidades das síndromes determinadas cromossomicamente, como Turner[26] e Klinefelter[27].
Na Síndrome de Turner não existe cromatina sexual. Desta forma, caso “a” portadora da doença tivesse de se submeter ao teste de cromátide, seria um ser biologicamente assexuado. Não poderia ser considerada mulher ou homem por não dispor do gene que determina o gênero sob o viés biológico. Ainda que ostente aparência feminina, esta situação é apenas aparente. Qualquer aparência que por ventura possua, é mera aparência, sem qualquer respaldo na própria biologia.
Na síndrome de Klinefelter ocorre exatamente o contrário. Há mais cromatinas sexuais do que o padrão normal informa. Neste caso são encontradas cromátides de ambos os sexos. Também neste caso o exame de cromátide é limitado. A multiplicidade cromossômica impede uma identificação aceita como real, já que foge ao padrão normal, que é xx ou xy.
A discussão biológica acerca das síndromes é importante porque afasta o absolutismo do discurso biológico, de que se valem alguns magistrados[28], e se assenta que não é em cromossomas que se afere Dignidade. Com isto, se é a Dignidade da Pessoa Humana a base de estruturação da Constituição da República Federativa do Brasil, soa sem propósito a afirmação da verdade biológica. Todos e quaisquer animais possuem genes que determinam aparência. Entre os seres humanos também. Não há dúvidas de tais genes existem. É de se ter, todavia, que o só fato da existência de síndromes cromossômicas põe em xeque o caráter absoluto do discurso biológico-cientifico. Ao mesmo tempo, tendo-se assente que a Dignidade está na racionalidade e na autonomia, não há dúvidas de que a verdade da psicologia deve se sobrepor à verdade biológica. Do contrário, reduzir-se-á o Ser Humano a uma realidade animal, e não psíquica.
Tendo-se claro que o Ser Humano possui um grau absolutamente diferente na escala dos seres, pura e simplesmente por ser racional e autônomo, entendemos que o exercício da racionalidade e da autonomia não pode ser negado. Não se pode negar a racionalidade, já que isto importaria em supressão da Dignidade e dos Direitos da Personalidade na parcela que são, verdadeiramente, absolutos.
Assentando-se que o conceito biológico se apresenta limitado para cuidar da realidade humana, chega-se ao conceito de sexualidade psicossocial[29]. Tal conceito (que a antropologia denomina gênero) é importante por permitir se transpassar as questões genéticas e se chegar à consideração de variáveis pré e pós-natais. Assim, a se assegurar efetividade prática à conceituação psicossocial de sexo, parece sustentável se dizer que o transexual operado é homem ou mulher, não podendo o sistema jurídico lhe impingir qualquer tipo de restrição. O homem ou a mulher que a racionalidade e a autonomia permitiram construir, nesta consideração, têm em si todas as prerrogativas de que gozam todos os cidadãos.
A indagação sobre a conceituação sexual assume ares de realidade quando o transexual vai até o Poder Judiciário. Quando o questionamento sobre sexualidade chega ao Poder Judiciário uma resposta deve ser ofertada pelo Estado-Juiz. Uma resposta que, evidentemente, deve chegar o mais próximo possível da consagração da Dignidade, permitindo a fruição dos direitos básicos.
Retomando a indagação sobre as possibilidades de consideração da sexualidade, uma questão desponta: qual delas se aproxima mais da fruição dos direitos básicos correlatos à cidadania?
O questionamento proposto, sem qualquer dúvida, é de difícil resposta. Deve se considerar, todavia, a reflexão que o espírito republicano e as razões de justificação da Constituição impõem. A consideração desta imposição fertiliza a discussão, fazendo crescer e frutificar a Dignidade da Pessoa Humana.
A utilidade do sistema jurídico, de seu sistema valorativo, se consolida na correspondência com as situações fáticas e as necessidades sociais. As situações carentes de proteção jurídicas devem ser solucionadas pelos princípios gerais do direito, pela analogia e pela eqüidade, mas sem se perder de vista o espírito de agregação, rumo norte do trabalho de integração hermenêutica. Haveria, então, apenas uma resposta correta no ordenamento jurídico. A resposta correta é a que permite maior grau de fruição dos direitos básicos pelas pessoas. Permite a fruição de direitos e garantias fundamentais e não alude a qualquer situação de exclusão e sectarismo social.
Com base nas possibilidades integrativas aduzidas, doutrina e jurisprudência podem se manifestar acerca das situações, mesmo as não-positivadas. Uma integração que, como já se assentou, deve ser efetuada com os olhos voltados para os valores pessoais do indivíduo, independente dos valores ditos normais pela comunidade e pelo grupo social. Uma possibilidade que não se faz pacífica, como se percebe na fala do procurador de justiça oficiante na Apelação Cível Apelação Cível n. 452,036-4/00[30]: “trata-se de uma situação anômala criada artificialmente e não consagrada pelo direito positivo”.
A se ter por válido o argumento aludido, tão-somente as situações albergadas positivamente pelo Ordenamento Jurídico mereceriam tutela jurisdicional. Esta aspiração já deu provas de sua falibilidade e se mostra desprovida de justificação, porque não leva em conta nem os elementos integrativos mínimos da Lei de Introdução ao Código Civil, ainda mais da Constituição da República Federativa do Brasil, declaradamente voltada para a promoção da cidadania.
Pensar nas possibilidades integrativas no seguimento proposto, permite-nos brindar com a obra de Edilsom Ferreira de Farias (Colisão de direitos à honra, à intimidade, à vida privada, e a imagem versus a liberdade de expressão e informação[31]), que traz apontamentos alinhados com a direção defendida. Uma integração que aspira, em primeiro lugar, a realização das pessoas. Uma realização que se dá como suposto de integridade do sistema e se apresenta valorada em relação à tese do ordenamento, que se contenta com a validade hierárquica, temporal ou de especialidade.
Transexualidade[32] é tema que gera muitas polêmicas. Significa, em síntese apertada, “divergência entre o fenótipo e genótipo”[33]. Consoante a lição de Maria Helena Diniz, aponta para “a condição sexual da pessoa que rejeita sua identidade genética e a própria anatomia de seu gênero, identificando-se psicologicamente com o gênero oposto.”[34]
A discussão sobre transexualidade parte, como regra, do discurso essencialista, onde só tem lugar o “transexual verdadeiro”[35], construído pelo saber médico, e, apenas nesta medida, percebido pelo direito. É de se ter, todavia, que a noção de transexualidade verdadeira precisa ceder em nome das conquistas da antropologia. Do contrário ver-se-á no direito (como, aliás, se tem visto) mera repetição deste discurso legitimante.
A repetição do discurso capaz de demover os julgadores do apriorismo resta evidenciada na doutrina de Aracy Klabin, onde se afirma a existência de duas espécies de transexualidade: primária e secundária. Na primária se encontra o transexual verdadeiro, que compreenderia os “pacientes cujo problema de transformação do sexo é precoce, impulsivo, insistente e imperativo, sem ter desvio significativo, tanto para o transvestismo quanto para o homossexualismo. É chamado, também de esquizossexualismo ou metamorfose sexual paranóica”[36]. Na secundária se englobariam o transexual secundário: “pacientes que gravitam pelo transexualismo somente para manter períodos de atividades homossexuais ou de transvestismo (são primeiro homossexuais ou travestis). O impulso sexual é flutuante e temporário, motivo pelo qual podemos dividir o transexualismo secundário em transexualismo do homossexual e do travesti.”[37]
Pensar em transexual verdadeiro é importante porque nos faz recobrar a mítica da heterossexualidade. Esta espécie de transexual não teria, então, nada que o “desabonasse”. Não é um promíscuo, mas uma pessoa que nasceu em corpo errado. Não é alguém que faz do exercício da sexualidade algo “pecaminoso”, mas uma pessoa que busca realizar sua “alma”. A cirurgia, assim, tem como objetivo de implementar a masculinidade ou feminilidade. Com isto, apenas as pessoas que se sentem em um corpo trocado podem se submeter à cirurgia de transgenitalização e, a partir desta, iniciar um procedimento de comunicação com o direito para que este reconheça a realidade, autorizando, em um segundo momento, a mudança do Registro Civil para que passe a constar a adequação.
Quando se diz que apenas o “transexual primário”[38] pode se submeter à cirurgia de transgenitalização, está sendo dito, ao mesmo tempo, que o secundário não pode contar com esta possibilidade. Em verdade, à luz do Direito Positivo – e da leitura positivista que se faz do tema –, não passa de alguém com intuição para a promiscuidade. Alguém que faz de traços da transexualidade um meio de exercício “desviado” da sexualidade.
Partindo-se do postulado de que a pessoa, individualmente considerada, é o valor supremo da ordem jurídica e que a garantia de sua Dignidade é um princípio fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não há como se negar a ninguém as prerrogativas afetas aos Direitos da Personalidade.
Ubi homini, ibi societas; ubi societas, ibi jus. Onde há homem há sociedade; onde há sociedade há direito. Há direito porque há sociedade. Há sociedade porque existem homens. Nesta linha se tem assente que o fim do direito é proteger os valores supremos que garantam a Dignidade do homem. O direito surge do homem, com o homem e para o homem e, assim, deve ser visto para que a pessoa tenha preservado o local especial que sua existência lhe confere no ordenamento jurídico. Um local que se faz habitável ao se considerar que à pessoa se deve reconhecer a condição de começo, meio e fim do direito.
A Constituição da República, ao estabelecer como seu fundamento a Dignidade da Pessoa Humana, a elegeu núcleo irradiador do ordenamento. Trouxe, desta forma, uma nova possibilidade de se ver e de se interpretar o sistema jurídico. Uma visão que deve se voltar, certamente, para uma maior consideração das situações existenciais.
A consideração das situações existências é um dado que se mostra essencial para a preservação do sistema. Dizemos isto porque, do momento que a Dignidade da Pessoa Humana é alçada à condição de vetor do ordenamento, este não pode ser pensado sem este viés. Do contrário, ter-se-á um ordenamento em crise e marcado por paradoxos, onde o discurso é um e a prática outra.
Quando se diz que à Pessoa Humana se reconhece um local especial, diz-se também que este local só se faz habitável quando esta pode desfrutar das prerrogativas que lhe são inerentes, notadamente autonomia e racionalidade. Um local que se fará ermo, todavia, se o homem for visto apenas na nuança biológica, já que enquanto animal biológico, desprovido de razão, será apenas animal. Com isto, não basta ter razão. A razão alude à autonomia como suposto essencial. Uma alusão que deve ser respeitada, sob pena de se negar ao Se Humano seu lugar especial na escala dos seres.
ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da Dignidade da pessoa humana: o enfoque da doutrina social da igreja. Rio de Janeiro: Renovar, Biblioteca de Teses, 2001.
AMORIM, José Roberto. Direito ao nome da pessoa física. São Paulo: Saraiva, 2003.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
ASCENSÃO, José de Oliveira. A pessoa: Entre o Formalismo e a Realidade Ética. Revista da EMERJ. Rio de Janeiro, v. 9, n. 33, p. 93-115, 2006.
BARBOSA, Heloiza Helena; BARRETO, Vincente de Paulo (org). Temas de Biodireito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
BENJAMIN, Harry. The Transsexual Phenomenon. New York: Julian Press, 1966.
BOURDIEU, Pierre. Usos Sociais da Ciência. São Paulo: UNESP, 2004.
CAENEGEM, R.C.van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado. Trad. Carlos Eduardo Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direitos da Personalidade. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. 57, 1991.
CARMO, Suzana J. de Oliveira. O transexualismo e o direito à integridade existencial. São Paulo. Direito Net. Disponível em: <www.direitonet.com.br/artigos/x/22/38/2238> Acesso: 25 novembro 2007.
CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais, 1961.
DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil. Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano 6, n. 6, p. 71-99, 2005.
FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Um Projeto de Código Civil na Contramão da Constituição. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, v. 4, out./dez. 2000.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
GRAU, Eros Roberto. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004
LAQUER, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomos II e IV. 3. ed. Coimbra: Ed. Coimbra, 1991.
MORAES, Maria Celina Bodin (Coord.). Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Renovar: Rio de Janeiro, 2006
NIETZSCHE, Friedrich. O Anticristo. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985.
OLIVEIRA, Flávia de Paiva Medeiros de. Os direitos de personalidade no novo código civil. Justilex. Brasília, v.2, n. 14, p. 49-52, fev. 2003.
RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília: Brasília Jurídica, 2001.
ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social. Revista Interesse Público. Ano 1., n. 4, out./dez. 1999. São Paulo: Notadez.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na constituição federal de 1988. 2 ed, revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002.
SILVA, Deonísio da. De onde vêm as palavras. Origens e curiosidades da língua portuguesa. 14. ed. São Paulo: A Girafa, 2004.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica e concretização da Constituição. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Del Rey. Belo Horizonte, n. 1, 2003.
SCHWEIZER, Marco Aurélio Lopes Ferreira da Silva. Transexualismo e o Registro Civil: Algumas Conseqüências Jurídicas. Fé Pública. Rio de Janeiro, ano II, n. 5, p. 26-29, 2007, p. 27.
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
VIEIRA, Tereza Rodrigues. Direito a adequação do nome e sexo de “Roberta Close”. São Paulo: Centro de Estudos em Bioética e Direito. Disponível em: <www.cebd.com.br/si/site/bdados?codigo=7&ver=9> Acesso: 02 janeiro 2008.
[1] Cf.: KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad.: Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004.
[2] A noção de Dignidade Humana pode ser vista em muitas passagens do texto sagrado, como João 10:10: “vim para que tenha vida, e vida em abundância”. Vida em abundância importa em respeito à psique.
[3] O Homem-indivíduo é uma marca do ocidente que decorre da compreensão judaico-mediterrânea de mundo. É de se estabelecer, por isto, que o conceito apresentado por Boécio não encampa realidades outras, como as tribais e anímicas, onde é o grupo que marca o indivíduo ao lhe designar um papel na comunidade.
[4] No 1º artigo da “Declaração dos Direitos da Virgínia” se assenta que é a felicidade um objetivo essencial do Ser Humano: “Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança.” DECLARAÇÕES Universais. Declaração dos Direitos da Virgínia. São Paulo: Direitos Humanos na Internet. Disponível em: <www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1776.htm> Acesso: 25 novembro 2007. (destacou-se)
[5] SILVA, Deonísio da. De onde vêm as palavras. Origens e curiosidades da língua portuguesa. 14. ed. São Paulo: A Girafa, 2004, p. 264.
[6] A qualidade intrínseca e distintiva de cada Ser Humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 2 ed, revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002, p. 62.
[7] Ernst Bloch, em citação de Pérez Luño, destaca que a Dignidade da Pessoa Humana possui duas dimensões que lhe são constitutivas: uma negativa e outra positiva. Aquela significa que a pessoa não venha ser objeto de ofensas ou humilhações. Disto nosso texto constitucional dispõe, por exemplo, que "ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante" (art. 5º, III, Constituição da República Federativa do Brasil). BLOCH, Ernst . Apud. PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 3. ed. Madrid: Tecnos, 1990, p. 318.
[8] Cf.: CYRINO, Hélio. Ideologia Hoje. Campinas: Papirus, 1986, p. 32.
[9] A questão da capacidade é importante em Roma porque nesta realidade se mostrava legítima no plano legal a criação de classes de indivíduos, fato que nosso sistema estatuído não permite, muito embora nossa prática social ainda insista nesta realidade, vide os elevadores, que são sociais e de serviço. São diferentes não apenas em razão da utilização que destes se faz. São diferentes, sobretudo, em razão das pessoas que os utilizam.
[10] FRANÇA, Limongi Rubens. Institutos de proteção à personalidade. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 57, n. 391, maio de 1968, p. 22.
[11] MALLET, Estevão. O novo Código Civil e o Direito do Trabalho. Campinas: TTRT da 15ª Região. Disponível em: <www.trt15.gov.br/escola_da_magistratura/Rev22Art3.pdf> Acesso: 19 novembro 2007.
[12] O Código Suíço manifesta a primeira reação contra os pandectistas e o Código Napoleônico. (...) Iniciando-se com um livro referente ao direito das pessoas, o Código Suíço redimensiona todos os outros direitos a partir da perspectiva humanista. Compõe-se, assim, da seguinte estrutura: livro sobre as pessoas, livro da família, livro das sucessões e livro dos direitos reais. Relembre - se, a retomada do humanismo, aqui, aparta - se do abstratismo personalista do Código Napoleônico. Cf.: FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2006.
[13] O Código Italiano reflete a aversão à frieza cientificista das Pandectas. Após árduo processo, que se estendeu de 1865 a 1942, reproduz em parte o Código Suíço e repele a parte geral do BGB, acrescentando aos elementos importados da Suíça um livro sobre obrigações e um sobre o trabalho, Cf.: FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2006.
[14] O Código Civil Italiano de 1942 lhe deu uma parcial disciplina, já de forma sistemática, embora esteja muito longe de apresentar especificação e classificação acabadas. O seu livro I dedica um título autônomo, o primeiro, às ‘pessoas físicas’, e os artigos 5 a 10, contidos nesse mesmo título, respeitam precisamente aos direitos da personalidade. Cf.: DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais, 1961.
[15] Na realidade brasileira alguns personagens públicos são conhecidos por seus cognomes, como Pelé, Xuxa, Lula e Ratinho. Este conceito não se confunde, ainda que guarde ponto de similitude, com pseudônimo. Estes cognomes, nos casos colacionados, foram acrescidos ao nome. Trata-se da prática consagrada no artigo 57, § 1º da Lei Registral.
[16] Pseudônimo é um nome livremente escolhido por uma pessoa com a finalidade de ocultar e identificar sua personalidade em determinada atividade, profissional ou não, trazendo-lhe um maior reconhecimento. Constitui uma designação especial utilizada por seus criadores. Ex.: Sousândrade (Joaquim de Souza Andrade); Morgado de Fortinhães, Xisto Ximenes, Tristão Silêncio, João de Romay (D. João de Vasconcellos Souza Castro Lima e Mello de Athayde e Almada); Suzana Flag, Myrna (Nelson Rodrigues); Júlio Dinis, Diana Avelada (Joaquim Guilherme Gomes Coelho); Visconde de Taunay (Alfredo d’Escragnolle Taunay). Cf.: MACIEL, Larissa Fialho. Nome Civil: Símbolo da Personalidade. João Pessoa: Data Vênia. Disponível em <www.datavenia.net/opiniao/nomecivili.htm> Acesso: 10 novembro 2007.
[17] As noções de núcleo duro, periferia e orla são fundamentais para se entender a questão do exercício do Direito da Personalidade. Este entendimento é basilar por permitir se conciliar a noção de (in)transmissibilidade destes direitos com transmissibilidade de exercício. Assim, quando a modelo é fotografada nas areias escaldantes do mediterrâneo não está abrindo mão de sua intimidade como direito da personalidade. Em relação ao ato filmado não há que se falar em intimidade, já que a titular fez tirar esta característica do núcleo e jogou na orla. Não quer dizer, todavia, que jamais terá de volta seu direito à intimidade. Esta característica da personalidade será sempre sua, a menos que ela própria a exerça de forma periférica ou marginal. Neste caso, em relação ao exercício, não há que se falar em preservação. Cf.: ASCENSÃO, José de Oliveira. A pessoa: Entre o Formalismo e a Realidade Ética. Revista da EMERJ. Rio de Janeiro, v. 9, n. 33, p. 93-115, 2006, p. 107.
[18] Quando se diz que houve transmissão de direitos da personalidade, houve, em verdade, transmissão de um direito patrimonial correlato à personalidade. Ainda assim, é de se dizer que, à luz da ordem vigente em nosso país, mesmo uma limitação de ordem patrimonial associada à personalidade, como o direito à imagem, não pode ser permanente, no sentido do que propugna o enunciado n. 4, aprovado na I Jornada do Conselho da Justiça Federal em referência ao artigo 11 do Código Civil: “o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral”. À medida que o enunciado colacionado aponta para a impossibilidade da cessão vitalícia de imagem, parece-nos, a título de exemplo, que, o contrato celebrado por Ronaldo e a Nike, caso realizado no Brasil, não seria válido. Por contrariar de forma expressa um correlato da personalidade, faltaria ao negócio jurídico um objeto lícito, no sentido do codex em seu artigo 104.
[19] Art. 13, CC: “Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.”
[20] Embora não mais vivamos sob a égide do “oitocentismo”, onde a pretensão era a positivação de toda a realidade em códigos, não podemos deixar de considerar a importância da codificação em uma realidade onde a prática pugna pelo pragmatismo da subsunção. É evidente que a sociedade se tornou mais sofisticada e que o ordenamento passou a se preocupar com valores, sobretudo os assegurados em sede constitucional. Nada obstante, não podemos ser ingênuos e ignorar a forca do Direito Positivo. GIORGIANNI, Michele. Tramonto della codificazione. La morte del codice ottocentesco. Apud. DONEDA, Danilo. Os Direitos da Personalidade no Código Civil. Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano 6, n. 6, p. 71-99, 2005, p. 72.
[21] ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 135.
[22] O que se nomina “sexo psicológico” no ramo jurídico é entendido na antropologia como gênero. Usaremos a expressão “sexo psicológico” ou “sexo psíquico” porque são estas as encontradas no meio jurídico, que continua, como regra, a se valer da expressão gênero no sentido meramente biológico.
[23] Sob tal ângulo, o procedimento cirúrgico a que foi submetido, não implicou em opção por um dos sexos de cujas características era portador, mas em adaptação física, construída artificialmente, do sexo masculino para o sexo feminino, sem que houvesse efetiva alteração de sexo, uma vez que, para todos os efeitos, ainda que, em tese. se admita tenha adquirido artificialmente a aparência da genitália feminina, a natureza de sua concepção não foi alterada.
Nesse aspecto, a adequada colocação feita pelo Procurador de Justiça oficiante "não se trata de esterilidade apenas. Trata-se e uma situação anômala criada artificialmente e não consagrada pelo direito positivo, uma vez que esterilidade pressupõe possibilidade de procriar. E o transexual operado não tinha, não tem e nem terá essa possibilidade Ofende ao bom senso imaginar que algo ou alguém seja estéril sem que ele próprio ou seu semelhante, para que se diga o menos, possa fazê-lo ainda que em tese. E nem em tese o ora Apelado poderia, poderá ou pode procriar" (fIs 121)
Ora, o registro civil espelha a realidade da pessoa, que se projeta, por intermédio de seu nome, para as relações sociais, no campo civil e no campo penal. Bem por isso, a preservação da identidade realiza-se ao longo de toda a vida da pessoa, mantendo uma unidade nas relações que vão sendo estabelecidas ao longo do tempo. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE NOME E SEXO. Regra da imutabilidade dos dados do assento de nascimento, que só podem ser modificados em razão de justificativa irrebatível. Sem risco para a verdade que todo o registro deve espelhar e sem que se retire dos terceiros o direito de conhecer a verdade. Sentença modificada. Recurso provido. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 452.036-4/00, São José do Rio Preto. Nona Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Grava Brasil. São Paulo, 07 nov. 2006. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br> Acesso: 15 outubro 2007. (destacou-se)
[24] Cf.: BOURDIEU, Pierre. Usos Sociais da Ciência. São Paulo: UNESP, 2004, passim.
[25] Cromossomas: s. m. Biol. Cada um dos corpúsculos, de cromatina que aparecem no núcleo de uma célula, durante a sua divisão. Constituem a sede das qualidades hereditárias representadas pelos genes. Dicionário de Biologia. Cromossomas. São Paulo: Guia Homem, Espírito e Universo. Disponível em: <www.guia.heu.nom.br/cromossomas.htm> Acesso: 13 dezembro 2007.
[26] “É uma monossomia na qual os indivíduos afetados exibem sexo feminino, mas, geralmente, não possuem cromatina sexual. O exame de seu cariótipo comumente revela 45 cromossomos, sendo que do par dos sexuais há apenas um X; dizemos que esses indivíduos são XO (xis zero), sendo seu cariótipo representado por 45, X.” ROCHA, Ronicely Pereira. Doenças Cromossômicas. Viçosa: Universidade Federal. Disponível em: <www.ufv.br/dbg/BIO240/DC02.htm> Acesso: 11 dezembro 2007.
[27] São indivíduos do sexo masculino que apresentam cromatina sexual e cariótipo geralmente 47,XXY. Outros cariótipos menos comuns são 48,XXYY; 48,XXXY; 49,XXXYY e 49,XXXXY que, respectivamente, exibem 1, 2 e 3 corpúsculos de Barr. Ibidem.
[28] Ademais, em linha de registro civil, prevalece a regra geral da imutabilidade dos dados, nome, prenome, sexo, filiação etc Há, portanto, um interesse público de manutenção da veracidade dos registros, de modo que a afirmação do sexo (masculino ou feminino) não diz com a aparência, mas com a realidade espelhada no nascimento, que não pode ser alterada artificialmente. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 452,036-4/00, São José do Rio Preto. Nona Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Grava Brasil. São Paulo, 07 nov. 2006. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br> Acesso: 15 outubro 2007. (destacou-se)
[29] É a percepção do indivíduo de si mesmo, como homem ou mulher. PERES, Ana Paula Ariston Barion. Transexualismo: O Direito a uma nova Identidade Sexual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 87.
[30] SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 452,036-4/00, São José do Rio Preto. Nona Câmara de Direito Privado. Relator: Desembargador Grava Brasil. São Paulo, 07 nov. 2006. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br> Acesso: 15 outubro 2007.
[31] FARIAS, Edilsom Ferreira de. Colisão de direitos à honra, à intimidade, à vida privada, e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2000, p. 60-61.
[32] A origem da transexualidade é controvertida. Em geral os estudos etiológicos do fenômeno são agrupados em duas grandes correntes. A primeira parte da análise dos fatores relativos ao ambiente social onde o indivíduo se desenvolve, após o seu nascimento. A segunda considera os fatores endócrinos no desenvolvimento pré-natal do indivíduo.
[33] Pedro Jorge Daguer. Apud. CHAVES, Antônio. Direito à vida e ao próprio corpo: intersexualismo, transexualismo, transplante. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 141.
[34] DINIZ, Maria Helena. O estudo atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 223.
[35] Na leitura de Berenice Bento há uma construção clara no sentido de rechaçar a idéia de “transexual verdadeiro”. Para tanto a autora parte de uma reflexão antropológica, no que supera o discurso meramente legista, e chega à conclusão de que o discurso do “transexual verdadeiro” ainda se mantém porque os transexuais tomaram consciência de que esta fala é um pressuposto para que se autorize a cirurgia de transgenitalização. O discurso seria mantido tão-somente como um suposto de comunicação, à medida que falar diferente importaria em ser ignorado pelo sistema. Importaria em não ser ouvido pelo saber medido e, portanto, também ser abstraído pelo direito e seu “poder de dizer o que é direito”, na perspectiva de Pierre Bourdieu. Cf.: BENTO, Berenice. A reinvenção do Corpo. Rio de Janeiro: Garamond, 2006, passim.
[36] KLABIN, Aracy. Aspectos Jurídicos do Transexualismo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, vol. 90, 1995, p. 197.
[37] Ibidem.
[38] O transexual primário é um indivíduo anatomicamente de um sexo, que acreditaria firmemente pertencer a outro. Trata-se de uma pessoa obcecada pelo desejo de ter o corpo alterado a fim de se ajustar ao verdadeiro sexo. Está ligado diretamente à incompatibilidade entre o sexo biológico e a identidade psicológica.
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: SIQUEIRA, Alesssandro Marques de. Dignidade da pessoa humana, direitos da personalidade e transexualidade Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 25 out 2010, 09:10. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/21986/dignidade-da-pessoa-humana-direitos-da-personalidade-e-transexualidade. Acesso em: 25 abr 2025.
Por: Gabriel Bacchieri Duarte Falcão
Por: Diedre Gomes de Carvalho
Por: Erick Labanca Garcia
Por: SIGRID DE LIMA PINHEIRO
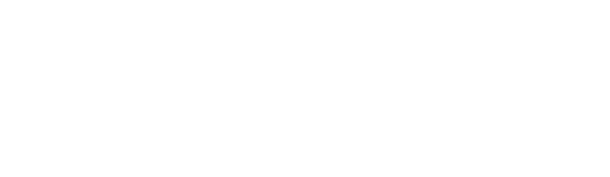
Precisa estar logado para fazer comentários.