

GABRIEL VINÍCIUS BARBOSA DE PAULA[1]
(coautor)
NATALIA CARDOSO MARRA[2]
(orientadora)
Resumo: O presente artigo analisa a descriminalização da eutanásia e do suicídio assistido sob a perspectiva jurídica e bioética, com foco na tensão entre o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Partindo da conceituação dessas práticas e de seus fundamentos bioéticos, o estudo examina a legislação brasileira vigente e sua insuficiência diante das demandas contemporâneas. Para tanto, realiza-se uma análise comparativa com os modelos regulatórios da Holanda, Bélgica e Suíça, evidenciando experiências exitosas na institucionalização do direito de morrer com dignidade. O artigo também incorpora o relato de Carolina Arruda, cidadã brasileira que busca o suicídio assistido na Suíça, como ilustração concreta das limitações impostas pela legislação nacional. Conclui-se pela necessidade de revisão normativa e pela construção de um marco legal sensível à autonomia, à dor e à dignidade.
Palavras-chave: Autonomia. Bioética. Eutanásia. Dignidade humana. Suicídio assistido.
Abstract: This article analyzes the decriminalization of euthanasia and assisted suicide from legal and bioethical perspectives, focusing on the tension between the right to life and the principle of human dignity. Based on the conceptual framework and bioethical foundations of these practices, the study critically examines Brazilian legislation and its inadequacy in responding to contemporary demands. It presents a comparative analysis of regulatory models in the Netherlands, Belgium, and Switzerland, highlighting successful experiences in institutionalizing the right to die with dignity. The case of Carolina Arruda, a Brazilian citizen seeking assisted suicide in Switzerland, is presented as a concrete illustration of the limitations imposed by national legal frameworks. The article concludes by advocating for legal reform and the construction of a normative system attentive to autonomy, suffering, and dignity.
Key-words: Assisted suicide. Autonomy. Bioethics. Euthanasia. Human dignity.
1.INTRODUÇÃO
A eutanásia e o suicídio assistido são temas que desafiam não apenas os sistemas jurídicos contemporâneos, mas também as esferas ética, bioética, religiosa e cultural. Ambas as práticas, embora distintas em sua execução e fundamentos, envolvem uma questão central: a autonomia do indivíduo diante da terminalidade da vida. Nas últimas décadas, o avanço da medicina paliativa e o prolongamento artificial da vida suscitaram novos debates sobre os limites do sofrimento humano e a legitimidade da intervenção estatal nesse campo tão sensível.
A escolha por abordar a descriminalização da eutanásia e do suicídio assistido se justifica pela relevância crescente do tema nas discussões jurídicas, especialmente no contexto da promoção dos direitos fundamentais e da dignidade humana. Em uma sociedade cada vez mais plural e marcada pela valorização da autonomia pessoal, torna-se imperioso refletir sobre os limites da tutela estatal e o direito de cada indivíduo decidir sobre sua própria morte diante de doenças incuráveis e sofrimento extremo (SARLET, 2021; BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2013).
A problemática central que orienta este estudo é: até que ponto o ordenamento jurídico brasileiro, ainda ancorado em um Código Penal concebido na década de 1940 — período marcado por uma estrutura autoritária e por forte influência de valores religiosos conservadores — responde adequadamente aos dilemas bioéticos e jurídicos contemporâneos relacionados à terminalidade da vida? A ausência de uma legislação específica, aliada à permanência de paradigmas morais da primeira metade do século XX, revela um vácuo normativo que impacta diretamente os direitos dos pacientes e os limites éticos da atuação médica.
Como observa Pessanha (2022, p. 88), “há uma dissociação entre o avanço dos direitos bioéticos e a estagnação normativa brasileira, que continua a punir condutas relacionadas ao fim da vida com base em paradigmas morais de mais de oito décadas”. Nesse contexto, torna-se urgente discutir a possibilidade de revisão legislativa que contemple as transformações sociais, culturais e científicas vividas nas últimas décadas.
Este artigo tem como objetivo analisar os fundamentos bioéticos que sustentam o debate sobre a eutanásia e o suicídio assistido, abordando suas implicações legais no ordenamento jurídico brasileiro e investigando como experiências internacionais têm enfrentado o tema. Para tanto, será adotada uma metodologia qualitativa, de caráter exploratório, com base em revisão bibliográfica de artigos científicos, legislações, jurisprudências e obras doutrinárias publicadas nos últimos dez anos.
A estrutura do artigo está organizada da seguinte forma: no Capítulo 1, serão apresentados os conceitos fundamentais de eutanásia e suicídio assistido, bem como seus fundamentos bioéticos. O Capítulo 2 será dedicado à análise da legislação nacional vigente, com destaque para os limites e lacunas normativas que cercam o tema. No Capítulo 3, será feita uma análise comparativa com experiências internacionais, com destaque para os modelos adotados na Holanda, Bélgica e Suíça, culminando na apresentação do caso real da brasileira Carolina Arruda, cuja trajetória ilustra com clareza os desafios enfrentados no Brasil. Por fim, serão propostas reflexões sobre a possibilidade de regulamentação da eutanásia e do suicídio assistido em solo brasileiro, à luz da dignidade humana e da autonomia pessoal.
2. EUTANÁSIA E SUICÍDIO ASSISTIDO: CONCEITOS
O debate sobre a eutanásia e o suicídio assistido tem ocupado um espaço de crescente relevância na agenda jurídica e bioética contemporânea. Mais do que uma controvérsia conceitual ou normativa, essas práticas desafiam o sistema jurídico brasileiro a refletir sobre os limites da autonomia individual frente à tutela estatal da vida. Neste capítulo, serão apresentados os conceitos centrais de eutanásia e suicídio assistido, seguidos da discussão dos fundamentos bioéticos que sustentam esse debate. Ao final, propõe-se uma análise comparativa que permita compreender as distinções entre as práticas e suas implicações ético-normativas.
2.1 Eutanásia
O termo “eutanásia” deriva do grego eu (bom) e thanatos (morte), e historicamente foi utilizado para designar uma morte tranquila ou sem sofrimento. No contexto contemporâneo, eutanásia refere-se à prática de provocar, intencionalmente, a morte de um paciente a seu pedido, com o intuito de cessar o sofrimento decorrente de doença incurável ou terminal. Segundo Lima et al. (2020, p. 77), “a eutanásia ativa voluntária ocorre quando um profissional de saúde administra deliberadamente um meio letal ao paciente, a pedido deste, com o objetivo de abreviar seu sofrimento”.
É importante distinguir os tipos de eutanásia: a ativa, em que há uma ação direta para causar a morte; e a passiva, que consiste na omissão de medidas terapêuticas para prolongar artificialmente a vida. Ainda pode ser classificada como voluntária, involuntária ou não voluntária, dependendo da manifestação de vontade do paciente (DINIZ, 2015). Essas categorias são fundamentais para a análise jurídica e bioética, uma vez que as implicações morais e legais variam de acordo com a forma e o consentimento.
No Brasil, apesar de não haver legislação específica sobre o tema, o Conselho Federal de Medicina autoriza, em determinadas condições, a limitação ou suspensão de medidas terapêuticas fúteis, reconhecendo o direito do paciente de recusar tratamentos que apenas prolonguem o processo de morte (Conselho Federal de Medicina, 2016). Essa diretriz, embora não configure uma autorização para eutanásia no sentido estrito, evidencia uma abertura ética à autonomia do paciente no final da vida.
2.2 Suicídio Assistido
Diferentemente da eutanásia, o suicídio assistido ocorre quando o próprio paciente é o agente executor do ato que leva à própria morte, ainda que conte com o suporte ou orientação de um profissional da saúde para obter os meios necessários. Em outras palavras, a ação letal é praticada pela própria pessoa, com amparo externo que, porém, não realiza o ato final (HOFF, 2021).
A distinção entre as duas práticas é crucial do ponto de vista ético e jurídico, uma vez que o suicídio assistido coloca o paciente em protagonismo absoluto sobre a decisão e execução do ato, enquanto a eutanásia pressupõe uma intervenção direta de terceiros. Para Cavalcanti (2019, p. 95), "o suicídio assistido evidencia a tensão entre a autonomia plena do sujeito e os limites legais da intervenção médica".
Diversos países tratam o suicídio assistido de forma distinta em relação à eutanásia. Na Suíça, por exemplo, a prática é legal desde a década de 1940, desde que não haja motivação egoísta por parte de quem auxilia. Instituições como a Dignitas operam dentro da legalidade, oferecendo suporte a pacientes terminais, inclusive estrangeiros, para que possam morrer de forma assistida, digna e consciente (FREI, 2022).
No Brasil, porém, o suicídio assistido ainda é abordado sob a ótica penal, com enquadramento possível nos artigos 122 e 121 do Código Penal (BRASIL, 1940), dependendo da extensão da participação do agente. Não há jurisprudência consolidada sobre casos de suicídio assistido, o que revela a ausência de debate jurídico amadurecido sobre o tema.
2.3 Considerações comparativas
Apesar de guardarem distinções conceituais e operacionais relevantes, a eutanásia e o suicídio assistido convergem em sua dimensão ético-filosófica, ao colocarem em evidência a autonomia individual frente à terminalidade da vida. Ambas desafiam o modelo biomédico tradicional, centrado na prolongação da vida biológica, ao proporem uma abordagem que prioriza o alívio do sofrimento e a preservação da dignidade subjetiva (FORTES; ZOBOLI, 2017; BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2013)
No âmbito jurídico, a distinção entre as duas práticas também implica diferenças significativas quanto à imputabilidade penal, à responsabilidade profissional e à possibilidade de regulamentação. A eutanásia envolve intervenção direta de terceiros, exigindo modelos legais mais rigorosos; já o suicídio assistido, por manter a ação final nas mãos do paciente, tende a ser mais aceito em sistemas jurídicos que valorizam a autodeterminação (PESSANHA, 2022; DINIZ, 2015).
Essas convergências e divergências justificam o tratamento conjunto das práticas neste artigo, ainda que sob análises diferenciadas. Compreender essas distinções é essencial para fundamentar propostas normativas que respeitem, simultaneamente, a dignidade da pessoa humana, a liberdade individual e os limites da intervenção médica.
2.4 Fundamentos bioéticos da eutanásia e do suicídio assistido
2.4.1 Direito à vida e à dignidade humana
A indissociabilidade entre o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana constitui arcabouço normativo basilar do constitucionalismo brasileiro contemporâneo. Ambos os valores encontram-se inscritos na Constituição Federal de 1988, sendo o primeiro declarado como direito inviolável (art. 5º, caput) e o segundo consagrado como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III). A leitura articulada desses preceitos impõe a superação de abordagens formalistas e absolutistas da vida como valor jurídico, deslocando o debate para a complexa intersecção entre existência biológica e sentido existencial (Brasil, 1988).
Do ponto de vista bioético, a vida não pode ser tutelada em abstrato, mas deve ser considerada em sua dimensão qualitativa, relacional e situada. Fortes e Zoboli (2017, p. 134) afirmam que "a vida biológica, por si só, não pode ser vista como absoluto se estiver dissociada de um mínimo de qualidade, autonomia e sentido para o sujeito". Sob essa ótica, a eutanásia e o suicídio assistido não devem ser abordados como negação da vida, mas como expressões do direito de morrer com dignidade diante da inevitabilidade do sofrimento terminal.
Sarlet (2021) sustenta que a dignidade da pessoa humana configura-se como metaprincípio constitucional, devendo orientar a interpretação de todos os demais direitos fundamentais, inclusive o direito à vida, cuja inviolabilidade não pode ser absolutizada a ponto de converter-se em fator de opressão. A afirmação da dignidade em situações-limite, como no contexto de doenças irreversíveis e sofrimento refratário, pode justificar juridicamente a escolha consciente de antecipação da morte, sem que isso implique desvalorização da vida enquanto tal.
Essa abordagem não visa relativizar a proteção constitucional da vida, mas reconhece que a tutela da dignidade implica, por vezes, admitir a legitimidade da recusa a intervenções terapêuticas fúteis ou a busca por estratégias de abreviação do sofrimento, especialmente quando este se revela incompatível com qualquer expectativa razoável de bem-estar ou autonomia remanescente.
2.4.2 A tensão entre o direito à vida e a autonomia individual
A tensão dialética entre a proteção da vida e a autonomia individual apresenta-se como um dos mais intrincados dilemas da bioética jurídica contemporânea. Enquanto o Estado assume o papel de guardião da vida como bem indisponível, cresce o reconhecimento do direito do indivíduo à autodeterminação existencial, notadamente no que tange à condução do próprio processo de morrer (SARLET, 2021; BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2013).
A autonomia, concebida como expressão da liberdade moral e da capacidade de autodireção do sujeito, ocupa posição central no paradigma bioético consagrado por Beauchamp e Childress (2013), ao lado da beneficência, da não maleficência e da justiça. No cenário da terminalidade, esse princípio adquire densidade normativa especial, ao legitimar a decisão do paciente de rejeitar intervenções que apenas prolongariam a dor ou degradariam sua experiência subjetiva de vida.
Barchifontaine (2018, p. 42) assevera que "negar ao paciente a possibilidade de decidir sobre o momento e as condições de sua morte é, muitas vezes, prorrogar uma existência contrária à sua vontade e à sua dignidade". Nesse sentido, a autonomia não se coloca em oposição ao direito à vida, mas o complementa e qualifica, ao reconhecer que o valor da vida decorre de sua significação para o próprio titular.
Portanto, a deliberação bioética exige uma hermenêutica constitucional sensível às circunstâncias concretas de vulnerabilidade e sofrimento. A reafirmação da vida como valor supremo não pode anular a singularidade das trajetórias individuais nem ignorar o sofrimento intransponível que determinadas condições clínicas impõem. Defender a autonomia em contextos extremos é, nesse horizonte, reafirmar o compromisso ético com a dignidade como núcleo axiológico da Constituição cidadã (SARLET, 2021; PESSANHA, 2022).
Compreendidos os fundamentos conceituais e bioéticos que sustentam a discussão sobre eutanásia e suicídio assistido, o próximo capítulo abordará a forma como essas práticas são tratadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, identificando lacunas normativas e desafios interpretativos para sua regulamentação.
3 A CRIMINALIZAÇÃO DA EUTANÁSIA E DO SUICÍDIO ASSISTIDO NO BRASIL
A discussão sobre a eutanásia e o suicídio assistido, quando transposta para o âmbito jurídico, depara-se com uma estrutura normativa ainda profundamente enraizada em paradigmas morais e legislativos do século XX. A criminalização dessas práticas no Brasil revela uma tensão latente entre os avanços da bioética e a rigidez do sistema penal, cuja matriz normativa não contempla as complexidades éticas e existenciais que envolvem a terminalidade da vida (PESSANHA, 2022; DINIZ, 2015).
A presente seção tem por objetivo examinar o tratamento legal conferido à eutanásia e ao suicídio assistido no ordenamento jurídico brasileiro, evidenciando os dispositivos penais aplicáveis, a ausência de regulamentação específica e os desafios interpretativos enfrentados por juristas, profissionais da saúde e pacientes. Pretende-se, assim, refletir criticamente sobre a necessidade de atualização legislativa e de construção de uma hermenêutica constitucional compatível com os direitos fundamentais da autonomia, da dignidade e da liberdade de escolha .
3.1 Legislação nacional
O ordenamento jurídico brasileiro, cuja espinha dorsal penal permanece ancorada no Código Penal de 1940, revela-se notoriamente defasado diante dos desafios morais, bioéticos e jurídicos suscitados pela temática da morte assistida. Tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são abordados sob a ótica da punição, evidenciando uma postura repressiva que desconsidera os avanços do debate internacional e os imperativos constitucionais contemporâneos. A eutanásia, ainda que não expressamente tipificada, tem sido interpretada majoritariamente como homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, quando praticada por motivo de relevante valor moral, como piedade ou compaixão. Em contextos mais estritos, no entanto, a conduta pode ser enquadrada como homicídio simples, com pena prevista de 6 a 20 anos de reclusão, mesmo que haja consentimento expresso do paciente (BRASIL, 1940).
No que concerne ao suicídio assistido, o art. 122 do Código Penal criminaliza a conduta daquele que induz, instiga ou auxilia outra pessoa a suicidar-se, prevendo penas que variam de 2 a 6 anos de reclusão. Embora o texto legal seja genérico, sua aplicação tem sido expandida para englobar situações de suicídio medicamente assistido, ainda que realizadas sob rigorosas condições de consentimento livre, informado e reiterado por parte do paciente. Tal compreensão ignora as nuances do contexto clínico e bioético que envolve a escolha de pacientes terminais que desejam interromper voluntariamente um sofrimento insuportável (PESSANHA, 2022; GARRAFA; PORTO, 2018).
A ausência de previsão normativa específica para essas práticas reflete uma estagnação legislativa que não acompanha as transformações sociais, os avanços da medicina paliativa e a consolidação dos direitos existenciais no plano constitucional. Essa lacuna normativa não apenas compromete a segurança jurídica de profissionais da saúde e pacientes, como também perpetua um modelo punitivista que desconsidera a complexidade dos dilemas vividos por pessoas em estado de vulnerabilidade extrema. Conforme adverte Gomes Canotilho (2020), a persecução penal de condutas humanitárias que visam apenas resguardar a dignidade do paciente representa uma afronta aos princípios constitucionais da liberdade, da autonomia privada e da solidariedade.
Ademais, o Poder Judiciário brasileiro tem se mantido omisso diante da urgência da matéria. As cortes superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, não produziram ainda jurisprudência consolidada que esclareça os limites entre o dever de proteção da vida e o respeito à autonomia individual no fim da vida. Essa omissão judicial contribui para a perpetuação da insegurança jurídica, fazendo com que médicos e familiares vivenciem um duplo sofrimento: o da perda iminente e o do risco penal subsequente (SARLET, 2021; PESSANHA, 2022).
Observa-se também que a legislação vigente não dialoga com os protocolos internacionais de direitos humanos que reconhecem o direito à autodeterminação como parte essencial da dignidade da pessoa humana. Diversos países que integram sistemas democráticos consolidaram legislações ou jurisprudências que permitem, sob condições estritas, a prática da morte assistida como forma de proteger a liberdade do indivíduo diante da terminalidade. O Brasil, ao ignorar essas tendências e ao se furtar ao debate qualificado, permanece atrelado a paradigmas morais e normativos que datam de um período histórico distante (CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS, 2011; PESSANHA, 2022).
É imperativo, portanto, que o legislador assuma sua responsabilidade institucional de reformar o marco normativo vigente. Tal reforma deve ser conduzida sob a égide do princípio da dignidade da pessoa humana, em consonância com o pluralismo de valores e com a laicidade do Estado. A construção de uma legislação que permita a regulação da eutanásia e do suicídio assistido, com controle judicial, garantias de consentimento e avaliação interdisciplinar, não representa uma renúncia à vida, mas uma afirmação da vida com dignidade (SARLET, 2021; GARRAFA; PORTO, 2018).
Em suma, a revisão normativa não é apenas desejável, mas imprescindível. Não se trata de uma questão apenas penal, mas de um imperativo ético, jurídico e humanitário, que exige da sociedade brasileira um enfrentamento honesto e empático do sofrimento humano em seus estágios finais. A criminalização cega, desprovida de razoabilidade e sensibilidade, converte-se em instrumento de crueldade institucional, negando às pessoas o direito de morrerem como viveram: com autonomia, lucidez e dignidade (GARRAFA; PORTO, 2018; PESSANHA, 2022).
3.2 Dimensões sociais, culturais e religiosas
A análise da eutanásia e do suicídio assistido em solo brasileiro requer uma abordagem que ultrapasse os domínios estritamente normativos, adentrando as camadas socioculturais e simbólicas que estruturam as percepções coletivas sobre a vida, o sofrimento e a morte. No contexto de uma sociedade marcada pela pluralidade epistemológica e pela coexistência de racionalidades religiosas, seculares e tradicionais, a construção de sentidos em torno do morrer se torna objeto de disputa discursiva e política. Essas representações são cruciais para a compreensão da resistência à institucionalização do direito à morte assistida, bem como para a identificação dos atores que tensionam a esfera pública em direção à dignificação dos processos de finitude (GUSMÃO, 2020; SANTOS, 2019).
Historicamente, o Brasil tem vivenciado um processo ambivalente de modernização institucional. Ao mesmo tempo em que consolida princípios republicanos como a laicidade do Estado e a proteção dos direitos fundamentais, mantém-se ancorado em estruturas normativas e culturais de matriz religiosa, sobretudo cristã. Esse paradoxo gera um campo de tensão entre, de um lado, os valores da autonomia individual e da dignidade existencial e, de outro, visões teológicas que absolutizam a sacralidade da vida como um bem inegociável. O discurso dominante em vários segmentos sociais ainda se baseia na concepção da vida como dom divino, inviolável e fora do alcance decisório do sujeito, o que limita o debate sobre a legitimidade de interromper tratamentos ou antecipar o fim da vida em casos de sofrimento extremo (SANTOS, 2019; GUSMÃO, 2020).
Dados empíricos recentes, como os levantamentos realizados por institutos como o Datafolha em 2021, apontam para uma sociedade profundamente dividida quanto ao reconhecimento do direito à morte assistida (DATAFOLHA, 2021). Tendências de maior aceitação se verificam em contextos urbanos, entre pessoas com maior escolarização formal e com orientação laica ou progressista (FORTES; ZOBOLI, 2017). Em contrapartida, há resistência expressiva em segmentos onde predomina a influência religiosa tradicional ou onde o debate bioético encontra-se menos institucionalizado (GUSMÃO, 2020). Essa polarização reflete uma disputa por hegemonia cultural sobre os sentidos atribuídos à dor, à terminalidade e à liberdade de escolha.
No âmbito das mediações sociais, diferentes atores desempenham papel estruturante na conformação das opiniões e atitudes coletivas sobre o tema. As instituições religiosas, em especial as igrejas católica e evangélica, mantêm um papel preponderante na produção de narrativas morais, frequentemente contrárias à legalização da eutanásia. Entretanto, observa-se o surgimento de vozes dissonantes dentro dessas tradições, que defendem a escuta do sofrimento e o respeito à autonomia espiritual do indivíduo. Ademais, religiões de matriz africana, vertentes do espiritismo e segmentos progressistas do cristianismo têm contribuído para a reconfiguração do debate, introduzindo perspectivas mais pluralistas e sensíveis à dor existencial (CAVALCANTI, 2020; GUSMÃO, 2020).
Paralelamente, movimentos sociais organizados têm exercido pressão sistemática por uma agenda de direitos que contemple a autodeterminação no fim da vida. Coletivos ligados à defesa dos direitos humanos, à bioética laica, ao feminismo e à população LGBTQIA+ articulam discursos que situam a eutanásia e o suicídio assistido no campo das liberdades civis. A perspectiva que defendem não se limita à possibilidade de encurtar o sofrimento, mas à exigência de um Estado que reconheça os limites da tutela institucional sobre corpos e vidas singulares (GARRAFA; PORTO, 2018; BENTO, 2020).
Nessa conjuntura, a atuação dos meios de comunicação é ambígua. Se por um lado a cobertura jornalística frequentemente reproduz estigmas ou alimenta discursos de medo e incerteza, por outro, narrativas audiovisuais mais sofisticadas têm contribuído para a sensibilização do grande público, ao humanizar as experiências do adoecimento, da terminalidade e do desejo de autonomia. Documentários, filmes e relatos pessoais veiculados em diferentes plataformas têm produzido uma pedagogia social alternativa, capaz de romper silêncios e construir empatia (FORTES; ZOBOLI, 2017; JOLY, 2012).
Diante desse panorama, torna-se evidente que o debate sobre a legalidade da eutanásia e do suicídio assistido não se restringe ao campo jurídico-normativo, mas implica uma disputa simbólica sobre os valores fundamentais que estruturam a vida social. A construção de uma agenda pública comprometida com a dignidade no fim da vida exige o enfrentamento das assimetrias culturais e o reconhecimento da diversidade de cosmovisões. Não se trata apenas de regular condutas, mas de promover um ethos social pautado pelo respeito à pluralidade, pela escuta ativa e pela valorização do sofrimento como dado humano inescapável. Esse horizonte exige não apenas transformações legais, mas sobretudo, transformações culturais e educacionais profundas, orientadas por uma ética da compaixão e do reconhecimento (FRASER, 2007; RICOEUR, 1990).
Superadas as análises sobre o tratamento jurídico e os condicionantes culturais que permeiam o debate brasileiro sobre a eutanásia e o suicídio assistido, passa-se agora à exploração de experiências internacionais que oferecem referenciais alternativos e concretos sobre a regulação dessas práticas.
4 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
O enfrentamento legal e bioético da eutanásia e do suicídio assistido tem assumido configurações multifacetadas no âmbito internacional, refletindo os entrelaçamentos entre tradições culturais, sistemas normativos, doutrinas religiosas e paradigmas filosóficos que informam o ethos de cada sociedade. Ao passo que algumas nações têm avançado na institucionalização do direito à morte digna, outras permanecem ancoradas em uma perspectiva restritiva e criminalizante, marcada por uma concepção absolutista da vida biológica. Esta seção propõe uma análise crítica e comparativa das experiências regulatórias mais significativas, com ênfase nos modelos normativos da Holanda, Bélgica e Suíça, cuja densidade institucional tem servido de referência para a reflexão no contexto brasileiro.
4.1 Holanda: modelo pioneiro de regulamentação
A Holanda se destacou como pioneira ao promulgar, em 2002, a Lei de Encerramento da Vida sob Solicitação Própria e Suicídio Assistido (PARLAMENTO DOS PAÍSES BAIXOS, 2002), estabelecendo um marco normativo robusto que reconhece a legitimidade do pedido de morte assistida em contextos de sofrimento refratário. O arcabouço legal exige a constatação de sofrimento insuportável, a manifestação voluntária, reiterada e bem informada do paciente, bem como a validação do pedido por um segundo profissional independente. A regulação contempla ainda situações de sofrimento psíquico grave, desde que comprovada a ineficácia de alternativas terapêuticas.
Segundo o "Journal of Medical Ethics" (2020), cerca de 4,2% das mortes no país decorrem de procedimentos legalmente autorizados de eutanásia ou suicídio assistido, o que evidencia a consolidação de uma prática institucionalmente legitimada, sujeita a métricas de controle e à responsabilização profissional.
4.2 Bélgica: ampliação da eutanásia para casos psicológicos
Também em 2002, a Bélgica incorporou em seu ordenamento jurídico a legalização da eutanásia, com dispositivos normativos que evoluíram para abranger casos de sofrimento psíquico crônico e irreversível. A extensão do direito às populações infantojuvenis, desde que comprovada a capacidade de discernimento, constitui um dos aspectos mais singulares e controversos do modelo belga (DIERICKX et al., 2018). Além disso, a legislação exige laudos psiquiátricos e a validação colegiada da decisão médica.
Estudos como o de Dierickx et al. (2018) documentam o crescimento gradual das solicitações de eutanásia por sofrimento psíquico, o que tem reavivado os debates sobre os limites epistemológicos da dor e da autonomia decisória. O caso belga ilustra a possibilidade de construção normativa em realidades sociais complexas, exigindo elevados padrões de fiscalização e ética profissional.
4.3 Suíça: a liberação do suicídio assistido
A Suíça adota uma solução normativa singular ao permitir, sob condições específicas, o suicídio assistido. A prática é autorizada pelo Código Penal desde que a motivação de quem auxilia não seja egoísta, cabendo às organizações civis, como a Dignitas, a operacionalização do procedimento, mediante avaliações médicas, psicológicas e documentais.
A jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos tem reiterado que a autonomia individual deve ser compreendida como elemento estruturante do direito à autodeterminação no fim da vida, desde que observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da proteção aos vulneráveis (CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS, 2011). O modelo suíço tem atraído pacientes estrangeiros, revelando tanto sua eficácia quanto as desigualdades transnacionais de acesso ao direito à morte assistida.
4.4 Relato de Carolina Arruda: a busca por dignidade em meio à dor
O caso da brasileira Carolina Arruda, portadora de neuralgia do trigêmeo bilateral, representa um paradigma contemporâneo da insuficiência normativa brasileira diante de quadros clínicos extremos. Reconhecida como uma das mais intensas formas de dor crônica, a condição de Carolina reflete os limites da medicina paliativa e da tutela estatal da vida em contextos de sofrimento refratário (G1, 2024).
Impossibilitada de acessar legalmente no Brasil mecanismos que lhe permitam exercer sua autonomia sobre o fim da vida, Carolina buscou amparo na legislação da Suíça. Sua campanha internacional teve repercussão midiática e acadêmica, contribuindo para a visibilização de uma agenda ainda negligenciada nas instâncias legislativas e jurisdicionais nacionais.
O relato de Carolina não apenas desnuda o vácuo regulatório existente no Brasil, mas também convoca uma reflexão interseccional sobre dor, gênero, desigualdade e autonomia. Seu caso figura como catalisador de um debate que transcende o direito penal, alcançando as dimensões da ética, da compaixão e da dignidade.
4.5 Análise comparativa e perspectivas para o Brasil
A observação dos modelos estrangeiros revela que a regulação do direito à morte assistida não apenas é viável, como também compatível com paradigmas democráticos e com os direitos humanos. As experiências analisadas demonstram a possibilidade de conciliação entre a proteção da vida e a garantia da autonomia, mediante instrumentos normativos claros, órgãos fiscalizadores atuantes e ética profissional qualificada.
No Brasil, a ausência de regulamentação específica gera um ambiente de insegurança jurídica e abandono existencial. Profissionais da saúde encontram-se sob risco de responsabilização penal mesmo diante de solicitações conscientes e reiteradas de pacientes em sofrimento extremo. Além disso, perpetua-se a naturalização da dor como destino, em detrimento da construção de uma cultura de cuidados e escuta ativa.
4.6 Exemplo no cinema: Como eu era antes de você
A produção cinematográfica tem desempenhado papel relevante na veiculação de discursos sobre a eutanásia e o suicídio assistido. O filme Como eu era antes de você (FILM4; NEW LINE CINEMA, 2016), adaptado do romance de Jojo Moyes, apresenta a trajetória de um jovem tetraplégico que opta pelo suicídio assistido na Suíça, mesmo diante de laços afetivos reconstruídos. A narrativa provocou debates intensos sobre capacitismo, sentido da vida e os limites do amor enquanto fator terapêutico.
Embora alvo de críticas quanto à representação da deficiência, o filme contribuiu para o alargamento do debate sobre o direito de decidir sobre o próprio destino, ampliando o acesso popular a questões frequentemente restritas ao campo biomédico e jurídico. A arte, nesse sentido, emerge como espaço de formação crítica e de mediação cultural de dilemas éticos contemporâneos.
Considerando as experiências regulatórias, os discursos artísticos e os relatos de vida, como o de Carolina Arruda (G1, 2024), é imperioso que o Brasil abandone a inércia normativa e enfrente, com maturidade política e sensibilidade humana, o desafio de regulamentar o direito à morte digna como extensão do direito à vida com sentido.
As experiências internacionais aqui apresentadas, somadas ao relato concreto de Carolina Arruda e às manifestações culturais sobre o tema, como as expressas na arte e no cinema, oferecem subsídios valiosos para a formulação de um debate mais maduro e plural no contexto brasileiro. A seguir, será apresentada a conclusão do estudo, com reflexões finais acerca da necessidade de revisão normativa e do reconhecimento do direito à morte digna como desdobramento da dignidade humana.
5 CONCLUSÃO
A análise realizada ao longo deste artigo permitiu evidenciar a complexidade que envolve o debate sobre a descriminalização da eutanásia e do suicídio assistido, situando-o em uma encruzilhada entre os direitos fundamentais, os valores culturais e os avanços bioéticos contemporâneos. Ao percorrer os fundamentos conceituais e bioéticos dessas práticas, observou-se que o direito à vida, embora inviolável sob a ótica constitucional, não pode ser absolutizado em detrimento da dignidade da pessoa humana, sobretudo em contextos de sofrimento refratário.
A tensão entre o dever estatal de proteção à vida e o respeito à autonomia individual exige uma hermenêutica constitucional sensível às singularidades existenciais e às condições de vulnerabilidade extrema. A legislação penal brasileira, ainda ancorada em paradigmas normativos do século passado, mostra-se insuficiente para acolher as demandas contemporâneas por uma regulação que garanta não apenas a continuidade da vida, mas sua continuidade com sentido e dignidade.
As experiências internacionais analisadas, notadamente os modelos da Holanda, Bélgica e Suíça, demonstram que é possível construir marcos regulatórios coerentes, éticos e fiscalizados, que respeitam a autonomia do paciente sem abrir mão da segurança jurídica e da ética profissional. O caso da brasileira Carolina Arruda, apresentado neste artigo, confere densidade à urgência de uma abordagem normativa que leve em consideração o sofrimento real de indivíduos que, em situações límite, desejam exercer o direito à morte digna.
Diante desse panorama, impõe-se ao Estado brasileiro o dever de repensar seus dispositivos penais e dialogar com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da autonomia e da liberdade. A regulação da eutanásia e do suicídio assistido, longe de representar uma renúncia à vida, configura-se como a afirmação de um direito último: o direito de não ter a dor transformada em destino.
A comparação entre o Brasil e os modelos regulatórios estrangeiros evidencia não apenas o vácuo legislativo nacional, mas também a urgência de um reposicionamento institucional frente às novas demandas sociais e existenciais. A maturidade política e a sensibilidade humana devem orientar um novo pacto normativo, capaz de reconhecer que morrer com dignidade é, também, uma expressão do direito de viver plenamente.
REFERÊNCIAS
BARCHIFONTAINE, Christiane. Ética e humanização da assistência à saúde: fundamentos e prática. São Paulo: Loyola, 2018.
BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2013.
BENTO, Maria Aparecida Silva. Racismo estrutural e bioética: o controle sobre os corpos não normativos. Revista Bioética, Brasília, v. 28, n. 1, p. 10–19, 2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 abr. 2025.
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 29 abr. 2025.
CAVALCANTI, Cláudia Regina. Espiritualidade e fim de vida: aproximações entre saúde, religião e bioética. Revista Estudos de Religião, v. 34, n. 2, p. 104–122, 2020. Disponível em: https://periodicos.pucminas.br/index.php/religiao/article/view/24345
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução CFM n.º 1.995/2012. Aprova as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Brasília: CFM, 2012. Disponível em: https://portal.cfm.org.br. Acesso em: 15 abr. 2025.
CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Haas v. Suíça (Application no. 31322/07). Strasbourg: ECHR, 2011. Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int. Acesso em: 15 abr. 2025.
DIERICKX, S.; DORSCHNER, K.; COHEN, J.; LEWY, J.; DREYER, G.; DUNTEMAN, T.; DOM, G. Euthanasia for people with psychiatric disorders or dementia in Belgium: analysis of officially reported cases. Canadian Medical Association Journal, v. 190, n. 7, p. E181–E186, 2018. DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.170365.
DINIZ, Débora. A morte assistida como direito: bioética e o debate sobre eutanásia. Revista Bioética, Brasília, v. 23, n. 2, p. 301–309, 2015. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br. Acesso em: 29 abr. 2025.
FREI, Raphael. Assisted suicide in Switzerland: legal framework, procedures and ethical debates. Swiss Journal of Medical Ethics, v. 28, n. 3, p. 45–59, 2022. Disponível em: https://www.medethics.ch. Acesso em: 29 abr. 2025.
FRASER, Nancy. Redistribuição ou reconhecimento? Uma crítica à justiça na era pós-socialista. Petrópolis: Vozes, 2007.
FILM4; NEW LINE CINEMA. Como eu era antes de você. Direção: Thea Sharrock. Produção: Karen Rosenfelt. Reino Unido: Warner Bros, 2016. 1 DVD (110 min), son., color.
FORTES, Paulo A.; ZOBOLI, Elma L. C. P. Bioética e cuidados paliativos: fundamentos e interface com os direitos humanos. Revista Bioética, Brasília, v. 25, n. 1, p. 132-141, 2017.
HOFF, Bernadette. Assisted suicide and patient autonomy: ethical reflections on end-of-life decisions. Bioethics Journal, v. 35, n. 2, p. 115–128, 2021. Disponível em: https://bioethicsjournal.org/articles/hoff2021. Acesso em: 29 abr. 2025.
G1. Brasileira com ‘a pior dor do mundo’ busca eutanásia na Suíça. G1 - Bem Estar, 04 abr. 2024. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasileira-dor-mundo-eutanasia.ghtml. Acesso em: 15 abr. 2025.
GARRAFA, Volnei; PORTO, Dora. Bioética, poder e injustiça: por uma bioética libertadora. São Paulo: Loyola, 2018.
GUSMÃO, Neuriberg Dias de. Religião e bioética: conflitos morais e as disputas pelo sentido da vida e da morte. Revista Brasileira de Bioética, v. 16, n. 1, p. 25–38, 2020. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br. Acesso em: 30 abr. 2025
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 2012.
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS. Euthanasia and assisted suicide in the Netherlands: a statistical analysis. Journal of Medical Ethics, v. 46, n. 9, p. 625–631, 2020. DOI: https://doi.org/10.1136/medethics-2019-105975.
LIMA, Gustavo A.; SOUZA, Mariana T.; RAMOS, Felipe V. Eutanásia e suicídio assistido: desafios éticos e implicações jurídicas no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Bioética, Brasília, v. 26, n. 1, p. 70–82, 2020. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br. Acesso em: 29 abr. 2025.
MOYES, Jojo. Como eu era antes de você. Tradução de Beatriz Horta. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.
PARLAMENTO DOS PAÍSES BAIXOS. Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, 2002. Disponível em: https://wetten.overheid.nl. Acesso em: 29 abr. 2025.
PESSANHA, André L. Bioética, autonomia e direitos fundamentais: reflexões sobre a terminalidade da vida no Brasil contemporâneo. Revista de Direito Constitucional e Bioética, v. 18, n. 2, p. 85–99, 2022. Disponível em: https://revistabioeticaconstitucional.org. Acesso em: 29 abr. 2025.
RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990. (Capítulos traduzidos no Brasil como “A justiça como equidade” e “O sofrimento como dado hermenêutico”).
SANTOS, Boaventura de Sousa. A difícil democracia: reinventar as esquerdas. São Paulo: Boitempo, 2019.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 15. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2021.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Brasil). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: STF, 1988. Disponível em: https://www.stf.jus.br. Acesso em: 15 abr. 2025.
[1] Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário UNA – Linha Verde – Belo Horizonte-MG. [email protected].
[2] Doutora em Ciências Sociais, docente do Centro Universitário UNA – Linha Verde – Belo Horizonte-MG
Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário UNA – Linha Verde – Belo Horizonte-MG
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: OLIVEIRA, Luiza Mirella Vieira de. Descriminalização da eutanásia e suicídio assistido Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 23 maio 2025, 04:31. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigo/68653/descriminalizao-da-eutansia-e-suicdio-assistido. Acesso em: 23 maio 2025.
Por: Gabriel Bacchieri Duarte Falcão
Por: Diedre Gomes de Carvalho
Por: Erick Labanca Garcia
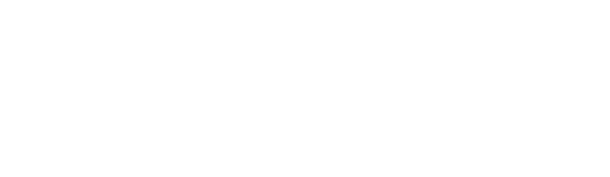
Precisa estar logado para fazer comentários.