

Resumo: O artigo aborda a evolução do constitucionalismo e da Constituição, destacando suas diferentes fases históricas e conceituais. Inicialmente, explora-se a noção de Constituição como um fenômeno jurídico, político e social, seguido da análise da transição do constitucionalismo antigo para o moderno. São examinadas as contribuições fundamentais das Constituições norte-americana e francesa, que estabeleceram princípios estruturantes, como supremacia constitucional, separação de poderes e direitos fundamentais. O estudo avança para o neoconstitucionalismo, fenômeno do pós-Segunda Guerra Mundial, que confere maior força normativa à Constituição e enfatiza a dignidade da pessoa humana. Por fim, o artigo explora as diferentes concepções teóricas sobre a Constituição, considerando perspectivas sociológicas, jurídicas e políticas. O trabalho oferece um panorama sobre a relevância da Constituição na estruturação dos Estados e na garantia de direitos e tem por algo os acadêmicos de direito.
Palavras-chave: Constituição; Constitucionalismo; Neoconstitucionalismo; Supremacia Constitucional; Separação de Poderes; Direitos Fundamentais; Poder Constituinte; Estado de Direito.
Sumário: 1. Introdução; 2. Evolução do Constitucionalismo; 2.1 Constitucionalismo Antigo; 2.2 Constitucionalismo Moderno; 2.2.1 Constitucionalismo Norte-Americano; 2.2.2 Constitucionalismo Francês; 3. Neoconstitucionalismo; 4. Conceito de Constituição; 4.1 Concepção Sociológica; 4.2 Concepção Jurídica; 4.3 Concepção Política; 5. Considerações Finais.
1 INTRODUÇÃO
A Constituição, assim como o próprio Direito, é uma criação humana, um fenômeno cultural e histórico. Não é uma criação da natureza, mas sim do homem, sendo fruto de um processo jurídico, político e social denominado Constitucionalismo.
Antes da consolidação das constituições formais[1], todos os Estados já possuíam uma constituição em sentido material[2], ou seja, um conjunto de normas e princípios que orientavam sua organização e funcionamento. No entanto, a evolução histórica conduziu à adoção da constituição em sentido formal, também chamada de constituição escrita, que passou a ser a base do modelo constitucional contemporâneo.
Para facilitar a compreensão desse fenômeno, a doutrina costuma dividir o estudo do constitucionalismo em diferentes fases ou ciclos. Essa sistematização permite um melhor entendimento do processo evolutivo que contribuiu para a formação do sentimento constitucional tal como o conhecemos hoje.
2. EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO.
O constitucionalismo é, portanto, um movimento político e ideológico que defende a limitação do poder do Estado e a proteção dos direitos humanos. Ele se baseia na Constituição, um documento legal que estabelece as regras e normas de um país.
Os marcos mais importantes do constitucionalismo antigo e do constitucionalismo moderno são os seguintes: i) Início do Constitucionalismo antigo: Séc. XIII: Magna Carta (1215). A Magna Carta, no Século XIII, é o marco inicial do constitucionalismo antigo; ii) Fim do Constitucionalismo antigo e início do Constitucionalismo moderno: Séc. XVIII: Constituições Americana (1787) e Francesa (1791).
Essas duas constituições marcam o fim do constitucionalismo antigo e o início do constitucionalismo moderno, elas são as duas primeiras constituições escritas em sentido moderno.
2.1 CONSTITUCIONALISMO ANTIGO.
Na Idade Média, predominava o absolutismo dos governantes, que eram vistos como representantes de Deus na Terra, sem mecanismos de participação popular, especialmente na Europa. Contudo, é nesse período que o constitucionalismo ressurge, uma vez que, na Antiguidade Clássica, já existiam ideias embrionárias de hierarquia das leis e separação de poderes, as quais se perderam com o advento do absolutismo medieval. Assim, o constitucionalismo renasce como uma reação ao poder ilimitado dos monarcas.
Na Idade Média, o pêndulo da história começa a se mover novamente, surgem documentos escritos que limitam o poder real. O grande marco desse processo é a Magna Carta de 1215[3].
Alguns dispositivos da Magna Carta permanecem em vigor até hoje, integrando a Constituição inglesa, que, ao contrário da Constituição brasileira de 1988, não é codificada em um único documento escrito, mas sim costumeira. No entanto, é fundamental lembrar que uma constituição costumeira também inclui elementos escritos.
Séculos após a Magna Carta, o processo de limitação do poder real avançou ainda mais. Com a evolução do constitucionalismo inglês, a soberania foi transferida da figura do rei para o Parlamento, consolidando um dos princípios fundamentais do Estado de Direito. Nesse sistema, o governante não governa segundo sua vontade absoluta, mas sim conforme as leis editadas pelo Parlamento.
O Bill of Rights de 1689 representou um marco nesse processo, sendo o primeiro documento de origem parlamentar a restringir formalmente os poderes do rei. Esse documento estabeleceu que o governo deveria ser exercido de acordo com as leis do Parlamento, consolidando o princípio de que ninguém está acima da lei.
Outro evento decisivo para o constitucionalismo inglês foi a Revolução Gloriosa, que reforçou a ideia de separação de poderes. Após essa revolução, instituiu-se na Inglaterra um governo moderado, fundamentado na representação popular e nas leis do Parlamento, com uma estrutura mista de poder.
2.2 CONSTITUCIONALISMO MODERNO.
2.2.1 CONSTITUCIONALISMO NORTE-AMERICANO.
O constitucionalismo norte-americano trouxe contribuições fundamentais para a construção da constituição em sentido moderno e para o desenvolvimento do sentimento constitucional.
A noção de supremacia constitucional levou ao desenvolvimento de uma das mais relevantes contribuições do constitucionalismo norte-americano: o controle de constitucionalidade. Esse mecanismo surgiu no famoso caso Marbury vs. Madison (1803)[4], no qual o juiz John Marshall estabeleceu o entendimento de que qualquer lei que contrarie a Constituição é nula.
A guarda da Constituição, nos Estados Unidos, foi confiada ao Poder Judiciário, que passou a exercer o controle judicial e difuso de constitucionalidade (judicial review). Isso significa que qualquer tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma em um caso concreto, reforçando o sistema de freios e contrapesos.
Outro princípio fundamental do constitucionalismo norte-americano é o de que nenhum poder é absoluto ou supremo. Todos os poderes derivam da Constituição e devem manter um equilíbrio, garantido pelo mecanismo de checks and balances (freios e contrapesos)[5]. Esse sistema permite pequenas interferências de um poder sobre o outro, evitando abusos e garantindo a estabilidade institucional.
Nos EUA, a Constituição tem uma função essencialmente garantista, ou seja, seu principal objetivo é limitar o poder do Estado e proteger direitos individuais. Nesse sentido, destaca-se o papel do Bill of Rights, que estabelece um catálogo de direitos fundamentais, como liberdade de expressão, direito ao devido processo legal e proibição de punições cruéis e incomuns.
Além do controle de constitucionalidade e da supremacia da Constituição, o modelo federal de Estado moderno também nasceu com a Constituição dos EUA de 1787.
Por fim, o sistema presidencialista de governo[6], tal como o conhecemos hoje, também teve origem na Constituição de 1787. Esse modelo concentra o poder executivo nas mãos do presidente, que é eleito diretamente pelo povo e exerce suas funções independentemente do Legislativo.
2.2.2 CONSTITUCIONALISMO FRANCÊS.
O constitucionalismo francês desempenhou um papel fundamental na construção do conceito moderno de Constituição.
Uma das mais importantes contribuições do constitucionalismo francês foi a afirmação da igualdade formal perante a lei. Antes da Revolução Francesa, vigorava na França um sistema medieval estamental, no qual era considerado natural que determinados grupos sociais desfrutassem de privilégios legais. A sociedade francesa era dividida em Clero, Nobreza e Terceiro Estado (restante da sociedade, incluindo camponeses, trabalhadores e burgueses).
A Revolução Francesa (1789) alterou radicalmente esse cenário, abolindo os privilégios do Antigo Regime e instituindo o princípio da igualdade perante a lei. A partir desse momento, os direitos passaram a ser reconhecidos não com base no estamento social, mas sim na condição humana. A ideia central passou a ser que todos os homens são livres e iguais por natureza, rompendo com a lógica aristocrática e pavimentando o caminho para a consolidação da cidadania e dos direitos individuais.
Com a Revolução Francesa, surgiu a necessidade de reorganizar o Estado e definir a origem do poder político. Esse processo culminou no desenvolvimento da teoria do Poder Constituinte, formulada principalmente por Emmanuel Sieyès[7], que defendia a ideia de que a soberania residia na Nação e que esta possuía o direito de criar sua própria Constituição.
Esse conceito influenciou profundamente as constituições modernas, estabelecendo que a Constituição deve emanar do povo[8] e ser superior a todas as demais normas jurídicas, fundamentando a própria estrutura do Estado e a organização dos poderes.
A posteriori, nasce um novo movimento que rompe com o este constitucionalismo clássico, que priorizava a organização e a limitação do poder estatal, para assumir uma postura voltada à concretização de direitos fundamentais, à centralidade da Constituição no ordenamento jurídico e à efetivação de seus valores.
3 - NEOCONSTITUCIONALISMO.
O neoconstitucionalismo, também chamado de constitucionalismo contemporâneo, representa a fase atual do constitucionalismo, surgida na segunda metade do século XX, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, como uma resposta à barbárie nazista.
O neoconstitucionalismo emerge como uma reação à predominância do positivismo jurídico na primeira metade do século XX. O positivismo jurídico se caracterizava por um direito formal e neutro, desvinculado de questões éticas e morais. Esse modelo permitiu que o regime nazista utilizasse o ordenamento jurídico como um instrumento de legitimação de práticas abomináveis, incluindo normas aprovadas em plebiscitos, ainda que esses não garantissem liberdade real de escolha aos cidadãos.
O formalismo jurídico puro não poderia mais prevalecer. O Direito não poderia ser tratado como um sistema neutro e desconectado de valores fundamentais. Assim, no contexto do pós-positivismo, começou-se a falar em uma nova fase do constitucionalismo: o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo.
O neoconstitucionalismo não é um modelo aplicável a todas as constituições, mas se manifesta nas constituições dos Estados democráticos. Suas principais características são: i) Supremacia da dignidade da pessoa humana: A dignidade humana se torna o valor central do Direito e da Constituição. Uma norma que viole esse princípio perde sua legitimidade, ainda que formalmente válida; ii) Integração entre Direito e moral: O Direito passa a ser interpretado sob uma perspectiva ética e moral, rompendo com a separação rígida entre Direito e moralidade. Assim, a interpretação constitucional é influenciada por valores morais e éticos, o que se reflete na crítica à legalidade estrita e ao formalismo jurídico puro; iii) Ampliação da matéria constitucional: As constituições passam a abarcar não apenas direitos fundamentais, mas também valores, diretrizes políticas e programas de ação estatal, tornando-se constituições dirigentes e mais extensas (às vezes chamadas de "constituições totais" por alguns autores); iv) Força normativa da Constituição: A Constituição deixa de ser vista apenas como um documento político e passa a ter efetiva força jurídica. Todas as suas normas, inclusive as normas programáticas, passam a ser reconhecidas como juridicamente vinculantes; v) Hierarquia superior da Constituição – A Constituição se torna formalmente superior a todas as demais normas jurídicas, consolidando o princípio da supremacia constitucional; vi) Centralidade da Constituição no ordenamento jurídico: O Direito passa a ser interpretado à luz da Constituição, e os direitos fundamentais se irradiam para todos os ramos do Direito, constitucionalizando toda a ordem jurídica. Isso significa que todas as normas jurídicas devem ser compatíveis com a Constituição e interpretadas a partir dela; vii) Convivência entre valores contraditórios: O neoconstitucionalismo reconhece que existem diversos valores constitucionais que podem entrar em conflito, exigindo mecanismos para ponderação; viii) Predominância dos princípios: Os princípios jurídicos passam a desempenhar um papel central na aplicação do Direito. No neoconstitucionalismo, os princípios são considerados normas jurídicas, assim como as regras. Essa visão foi amplamente desenvolvida por Ronald Dworkin e Robert Alexy; ix) Ponderação e proporcionalidade: A aplicação do Direito passa a ser regida não apenas pelo método tradicional da subsunção, mas também por técnicas como ponderação de interesses, proporcionalidade e razoabilidade, ampliando a margem interpretativa dos juízes.
Necessário ressaltar os novos fenômenos decorrentes do neoconstitucionalismo: Constitucionalização do Direito: Todo o ordenamento jurídico passa a ser lido e interpretado à luz da Constituição; Filtragem constitucional: Todas as relações jurídicas, sociais e políticas devem ser analisadas a partir de um filtro constitucional; Onipresença da Constituição: A Constituição passa a estar presente em todas as relações sociais e políticas; Jurisdicionalização da política: O Poder Judiciário assume um papel central na arena política, substituindo o antigo Estado legiscêntrico (modelo em que a legislação era o eixo central do sistema jurídico).
Porém, apesar das festejadas inovações, o movimento também é alvo de críticas. As principais são: Excesso de protagonismo judicial; Ativismo judicial excessivo; Falta de compromisso metodológico; Insegurança jurídica; Desvalorização da política e dos representantes eleitos.
As características citadas nesta obra até o momento, foram brilhantemente sintetizadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que identificou três marcos fundamentais que caracterizam o neoconstitucionalismo:
Marco histórico: O período pós-Segunda Guerra Mundial, no qual se consolida o Estado Constitucional de Direito;
Marco filosófico: A ascensão do pós-positivismo, que rejeita o formalismo jurídico puro e valoriza a dignidade humana como princípio fundamental;
Marco teórico: Transformações na dogmática jurídica, incluindo: i) Força normativa da Constituição; ii) Novo modelo de interpretação constitucional; iii) Expansão da jurisdição constitucional; iv) Neoconstitucionalismo e Globalização
4 - CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO.
O termo Constituição admite múltiplos significados, podendo ser compreendido sob diferentes perspectivas. Em sentido comum, conforme José Afonso da Silva, a Constituição representa o modo de ser do Estado. Já em sentido jurídico, ela é a lei fundamental de um Estado, responsável por organizar seus elementos essenciais.
Os elementos constitutivos do Estado são: i) Elemento físico ou geográfico: O território; Elemento humano: O povo; Elemento político: O poder. Alguns autores incluem um quarto elemento, a finalidade do Estado, enquanto outros o consideram parte do elemento político.
Para Canotilho[9], a Constituição, em sentido jurídico, pode ser vista como o estatuto jurídico do político, pois é no texto constitucional que o jurídico e o político se entrelaçam, transformando decisões políticas fundamentais em normas jurídicas.
Contudo, responder à pergunta "o que é uma Constituição?" requer considerar as diversas concepções doutrinárias. As três principais abordagens teóricas são: i) Concepção sociológica (Ferdinand Lassalle); ii) Concepção jurídica (Hans Kelsen); iii) Concepção política (Carl Schmitt). Essas concepções são frequentemente cobradas em provas de concursos públicos, tanto em provas objetivas quanto subjetivas.
Concepção Sociológica de Constituição. O principal expoente dessa concepção é Ferdinand Lassalle, autor de A Essência da Constituição. Para o autor, a Constituição escrita é apenas uma folha de papel. A verdadeira Constituição de um Estado é a soma dos fatores reais de poder, que prevalecem sempre que entram em colisão com o texto formal.
Segundo essa visão, o poder na sociedade está fragmentado em diversas forças, como, Poder econômico, Poder político, Poder militar, Poder religioso.
Esses fatores interagem na arena social, disputando e consolidando suas influências. Assim, a Constituição escrita só será eficaz se refletir a soma dos fatores reais de poder. Caso contrário, será ignorada ou modificada para se adequar à realidade.
Concepção Jurídica de Constituição. O principal representante dessa concepção é Hans Kelsen, cuja teoria está exposta na obra Teoria Pura do Direito.
Para Kelsen, a Constituição possui supremacia hierárquica formal e é o fundamento de validade das demais normas jurídicas. A Constituição deve ser pura, ou seja, dissociada de qualquer fundamento sociológico, político ou filosófico.
O autor austríaco, atribuiu dois Sentidos a Constituição em: i) Sentido jurídico-positivo: A Constituição é a norma jurídica escrita, situada no ápice da pirâmide normativa, servindo como fundamento de validade para todas as normas inferiores; ii) Sentido lógico-jurídico: Se a Constituição é o fundamento de validade das leis, qual é o fundamento de validade da própria Constituição? Kelsen responde com a norma hipotética fundamental, um pressuposto lógico que justifica a existência e a obediência à Constituição formal.
Para Schmitt, Constituição é a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Isso significa que uma Constituição não se resume ao texto formal, mas sim às decisões essenciais que estruturam o Estado.
Schmitt distingue entre: i) Constituição em sentido material: Conjunto das decisões políticas fundamentais (exemplo: adoção do regime republicano, da federação e da separação de poderes; ii) Constituição em sentido formal: Conjunto de normas incluídas no texto constitucional, mas que não necessariamente refletem decisões políticas essenciais. Como por exemplo o art. 242, § 2º, da CF/88, que trata do Colégio Pedro II como referência educacional no Brasil, não representa uma decisão política fundamental. Esse dispositivo é formalmente constitucional, mas materialmente uma norma ordinária, sendo um exemplo de mera lei constitucional.
A teoria de Schmitt influenciou a distinção entre Constituição em sentido material e formal, sendo amplamente utilizada na análise constitucional contemporânea.
Importante ressaltar para os neófitos, que existem outras teorias que podem ser melhor estudadas em uma abro mais aprofundada, como por exemplo: i) Concepção culturalista (J. H. Meirelles Teixeira); ii) A Teoria da Força Normativa da Constituição (Konrad Hesse); iii) A Teoria da Constituição como um Processo Público – A Constituição Aberta (Peter Häberle); iv) A Teoria da Constitucionalização simbólica (Marcelo Neves).
4.1. Concepção Sociológica de Constituição.
O principal expoente dessa concepção é Ferdinand Lassalle, autor de “A Essência da Constituição”[10]. Para o autor, a Constituição escrita é apenas uma folha de papel. A verdadeira Constituição de um Estado é a soma dos fatores reais de poder, que prevalecem sempre que entram em colisão com o texto formal.
Segundo essa visão, o poder na sociedade está fragmentado em diversas forças, como, Poder econômico, Poder político, Poder militar, Poder religioso.
Esses fatores interagem na arena social, disputando e consolidando suas influências. Assim, a Constituição escrita só será eficaz se refletir a soma dos fatores reais de poder. Caso contrário, será ignorada ou modificada para se adequar à realidade.
Um exemplo clássico dessa teoria no Brasil foi a revogação do art. 192, § 3º, da Constituição de 1988, que limitava os juros reais a 12% ao ano, sob pena de caracterização do crime de usura. Na prática, os fatores reais de poder – representados pelo setor econômico e financeiro, não aceitaram essa limitação, capturando o STF, que por sua vez decidiu que a norma não era autoaplicável, necessitando de regulamentação infraconstitucional.
Em 2003, a Emenda Constitucional 40 revogou esse dispositivo, culminando em um desfecho que ilustra como os fatores reais de poder podem se sobrepor ao texto constitucional formal, confirmando a tese de Lassalle.
4.2. Concepção Jurídica de Constituição.
O principal representante dessa concepção é Hans Kelsen, cuja teoria está exposta na obra Teoria Pura do Direito[11].
Para Kelsen, a Constituição possui supremacia hierárquica formal e é o fundamento de validade das demais normas jurídicas. A Constituição deve ser pura, ou seja, dissociada de qualquer fundamento sociológico, político ou filosófico.
Diferentemente de Lassalle, Kelsen rejeita a noção de fatores reais de poder, argumentando que a Constituição é uma norma suprema e obrigatória. O legislador deve produzir normas em conformidade com ela, garantindo sua aplicabilidade.
O autor austríaco, atribuiu dois Sentidos a Constituição em: i) Sentido jurídico-positivo: A Constituição é a norma jurídica escrita, situada no ápice da pirâmide normativa, servindo como fundamento de validade para todas as normas inferiores; ii) Sentido lógico-jurídico: Se a Constituição é o fundamento de validade das leis, qual é o fundamento de validade da própria Constituição? Kelsen responde com a norma hipotética fundamental, um pressuposto lógico que justifica a existência e a obediência à Constituição formal.
4.3. Concepção Política de Constituição.
O principal expoente dessa concepção é Carl Schmitt, autor de Teoria da Constituição[12].
Para Schmitt, Constituição é a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Isso significa que uma Constituição não se resume ao texto formal, mas sim às decisões essenciais que estruturam o Estado.
Schmitt distingue entre: i) Constituição em sentido material: Conjunto das decisões políticas fundamentais (exemplo: adoção do regime republicano, da federação e da separação de poderes; ii) Constituição em sentido formal: Conjunto de normas incluídas no texto constitucional, mas que não necessariamente refletem decisões políticas essenciais. Como por exemplo o art. 242, § 2º, da CF/88, que trata do Colégio Pedro II como referência educacional no Brasil, não representa uma decisão política fundamental. Esse dispositivo é formalmente constitucional, mas materialmente uma norma ordinária, sendo um exemplo de mera lei constitucional.
A teoria de Schmitt influenciou a distinção entre Constituição em sentido material e formal, sendo amplamente utilizada na análise constitucional contemporânea.
Portanto, os diferentes conceitos de Constituição demonstram a multiplicidade de perspectivas sobre seu papel e função no ordenamento jurídico. i) Lassalle (sociológica): A Constituição real é a soma dos fatores de poder; a Constituição escrita é apenas uma "folha de papel"; ii) Kelsen (jurídica): A Constituição é a norma suprema, o fundamento de validade das demais normas; iii) Schmitt (política): Constituição é a decisão política fundamental que estrutura o Estado.
Cada abordagem influencia a interpretação constitucional e a forma como os tribunais aplicam o Direito. Essas concepções são amplamente debatidas e exploradas pela doutrina e cobradas em provas e concursos públicos.
Além dos conceitos expostos, a doutrina expande o tema, uma vez que a Constituição é muito mais do que um conjunto de normas escritas. Ela é um projeto de nação, uma expressão da identidade coletiva e um instrumento de transformação social. Ao longo da história, diferentes teorias buscaram explicar sua essência e sua função. Entre essas, destaco três concepções fundamentais que contribuem para uma compreensão mais ampla e contemporânea do fenômeno constitucional: a Concepção Culturalista, a Teoria da Força Normativa da Constituição e a Constituição como Processo Público.
5. Considerações Finais.
A trajetória do constitucionalismo revela a evolução das Constituições como instrumentos de limitação do poder e garantia de direitos. Do constitucionalismo antigo ao neoconstitucionalismo, a Constituição consolidou-se como a base do Estado de Direito, refletindo valores históricos e demandas sociais.
No cenário atual, a força normativa da Constituição e a centralidade dos direitos fundamentais reafirmam seu papel essencial. Contudo, desafios como o ativismo judicial e a segurança jurídica exigem reflexões constantes. Assim, o estudo do constitucionalismo permanece fundamental para a consolidação da democracia e da proteção dos direitos.
[1] Constituição Formal: é aquela dotada de supralegalidade (supremacia), estando sempre acima de todas as outras normas do ordenamento jurídico de um determinado país. Nesse sentido, por ter supralegalidade, só pode ser modificada por procedimentos especiais que ela no seu corpo prevê, na medida em que normas ordinárias não a modificam, estando certo que se contrariarem a constituição serão consideradas inconstitucionais. Portanto, a Constituição formal, sem dúvida, quanto à estabilidade, será rígida. (Curso de Direito Constitucional / Bernardo Gonçalves Fernandes 12. ed. rev., atual, e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020). P. 42.
[2] Constituição Material: é aquela escrita ou não em um documento constitucional e que contém as normas tipicamente constitutivas do Estado e da sociedade. Ou seja, são as normas fundantes (basilares) que fazem parte do "núcleo ideológico" constitutivo do Estado e da sociedade. Sem dúvida, essas matérias com o advento do constitucionalismo (moderno) vêm sendo definidas como: Organização e estruturação do Estado e Direitos e Garantias Fundamentais. (Curso de Direito Constitucional / Bernardo Gonçalves Fernandes 12. ed. rev., atual, e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020). P. 42.
[3] Mas, sem dúvida, é no Direito inglês que o habeas corpus finca sua origem moderna. Um ponto de partida é o capítulo XXXIX da Magna Carta de 1215, outorgada pelo Rei João Sem Terra. Esta assim prelecionava: Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento por seus pares, de acordo com as leis do país. (Curso de Direito Constitucional / Bernardo Gonçalves Fernandes 12. ed. rev., atual, e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020). P. 824.
[4] Pode-se, assim, afirmar que a noção e a ideia de controle difuso de constitucionalidade, historicamente, devem-se ao famoso caso julgado pelo Juiz John Marshall da Suprema Corte norte-americana, que, apreciando o precedente Marbury v. Madison, em 1803, decidiu que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei em um caso concreto e a Constituição, deve prevalecer a Constituição, por ser hierarquicamente superior. (Direito Constitucional / Pedro Lenza; organizado por Pedro Lenza. – 27. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023) -P. 468.
[5] Barroso lembra que “sob o regime da Constituição de 1988 vigora o sistema de freios e contrapesos (checks and balances), no qual os Poderes são independentes, harmônicos e se controlam reciprocamente. Não se deve esquecer, tampouco, a importância do controle social, de grande relevância nas sociedades abertas e democráticas”. (Direito Constitucional / Pedro Lenza; organizado por Pedro Lenza. – 27. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023) P. 1614
[6] No sistema presidencialista, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, o Presidente da República. Pagina 1051. (Direito Constitucional / Pedro Lenza; organizado por Pedro Lenza. – 27. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023)
[7] Op. cit., p. 75. Emmanuel Joseph Sieyès, o grande teórico da matéria, por meio do panfleto denominado “Que é o terceiro Estado?” (Qu’est-ce que le tiers État?), apontava como titular a nação, entendimento esse superado, conforme visto.
[8] O titular do poder é o povo. Como regra, o exercício desse poder, cujo titular, repita-se, é o povo, dá-se através dos representantes do povo. (Direito Constitucional / Pedro Lenza; organizado por Pedro Lenza. – 27. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023)
[9] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.
[10] LASSALLE, Ferdinand, A essencia da Constituicao, p. 25-28.
[11] KELSEN, Hans, Teoria pura do direito, p. 247.
[12] 139. SCHMITT, Carl, Teoriodela Constitucion, p. 23-24.
graduado pela Universidade Moacyr Sreder Bastos. Pós-graduado em Direito Constitucional pela Faculdade Origenes Lessa. Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, Faculdade Arnaldo Janssen, FA.
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: PINHO, Mauro Campos de. Constitucionalismo e Constituição Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 07 fev 2025, 04:27. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/67782/constitucionalismo-e-constituio. Acesso em: 10 fev 2025.
Por: FILIPE EWERTON RIBEIRO TELES
Por: FILIPE EWERTON RIBEIRO TELES
Por: JOÃO PAULO SACCHETTO
Por: KLEBER PEREIRA DE ARAÚJO E SILVA
Por: Erick Labanca Garcia
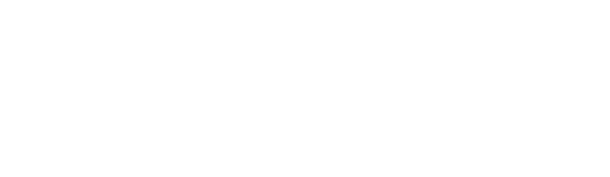
Precisa estar logado para fazer comentários.