

RESUMO: O presente artigo tem como escopo abordar a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e a efetivação dos seus direitos partindo-se da premissa de que tal grupo foi historicamente relegado ao segundo plano, em situação de vulnerabilidade, abandono e exploração, e que em virtude de um sistema social viciado foram por muito tempo, desprovidos de direitos. Desta feita, a problemática da presente pesquisa fundamenta-se no seguinte questionamento: a violência intrafamiliar seria um fenômeno cultural? Assim sendo, seria possível considerar a efetividade dos seus direitos como uma realidade? Dada a relevância do tema, este artigo objetiva abordar a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes sob a perspectiva cultural, visando encontrar algumas respostas que a posicione com o um fenômeno cultural e que por esse viés possa ser combatida ou minimizada. A metodologia adotada consiste em explorar o referido tema, por meio de uma abordagem qualitativa, e por ser uma pesquisa bibliográfica, utiliza livros, em especial as obras de Heller “O cotidiano e a história” e Laraia “Cultura: um conceito antropológico” como base para a pesquisa, além de produções acadêmicas como procedimento técnico.
Palavras-chave: Violência intrafamiliar. Criança e adolescente. Direitos.
ABSTRACT: This article aims to address intra-family violence against children and adolescents and the realization of their rights based on the premise that this group has historically been relegated to the background, in a situation of vulnerability, abandonment and exploitation, and that, due to a corrupt social system, they have been deprived of rights for a long time. Therefore, the problem of this research is based on the following question: would intra-family violence be a cultural phenomenon? Therefore, would it be possible to consider the effectiveness of your rights as a reality? Given the relevance of the topic, this article aims to address intra-family violence against children and adolescents from a cultural perspective, aiming to find some answers that position it as a cultural phenomenon and that can be combatted or minimized from this perspective. The methodology adopted consists of exploring the aforementioned theme, through a qualitative approach, and as it is a bibliographical research, it uses books, in particular the works of Heller “The daily life and history” and Laraia “Culture: an anthropological concept” as a basis for the research, in addition to academic productions as a technical procedure.
Keywords: Intrafamily violence. Child and adolescent. Rights.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como escopo abordar a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e a efetivação dos seus direitos partindo-se da premissa de que tal grupo foi historicamente relegado ao segundo plano, em situação de vulnerabilidade, abandono e exploração, e que em virtude de um sistema social viciado foram por muito tempo, desprovidos de direitos.
Trata-se da violência intrafamiliar, que como o próprio nome diz, ocorre dentro da instituição “família.”. Devido à gravidade do que ela representa, é um campo que merece especial análise, pois o agressor (dominador) se aproveita da situação da vítima que se encontra em ambiente familiar subjugada a ele, não só para violentar, mas também para ameaçar, coagir sob o fundamento de um poder simbólico que lhe foi legitimado histórica e socialmente pelo modelo de família patriarcal.
O descaso com o qual é tratada a violência doméstica é assim, fruto da conivência da sociedade brasileira, que ainda possui enraizado em sua cultura a ideologia do patriarcado e da concepção adultocêntrica, conferindo aos homens poderes maritais e patriarcais aptos a subjugar as mulheres e os filhos deles e aos adultos a posição de superioridade em relação às crianças e adolescentes.
A discussão para tanto, encontra-se embasada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, que começou a reconhecer o público infantojuvenil como cidadãos de direitos e de obrigações alterando a posição desse público e sua importância, e refletindo diretamente em sua cultura e no cotidiano social. O Estatuto concedeu às crianças e adolescentes o “status” de pessoas vulneráveis merecedoras de atenção especial, em virtude de seu processo de desenvolvimento físico e psicológico.
Por isso, o ECA destaca a cooperação de órgãos e instituições do Sistema de Garantias de Direitos, entre os quais se encontram os Conselhos Tutelares, a Defensoria Pública, o Ministério Público, entre outros, com o objetivo de oferecer maior proteção a elas a fim de efetivar os seus direitos.
Desta feita, a problemática da presente pesquisa fundamenta-se no seguinte questionamento: a violência intrafamiliar seria um fenômeno cultural? Assim sendo, seria possível considerar a efetividade dos seus direitos como uma realidade?
Dada a relevância do tema, este artigo objetiva abordar a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes sob a perspectiva cultural, visando encontrar algumas respostas que a posicione com o um fenômeno cultural e que por esse viés possa ser combatida ou minimizada. A metodologia adotada consiste em explorar o referido tema, por meio de uma abordagem qualitativa, e por ser uma pesquisa bibliográfica, utiliza livros, em especial as obras de Heller “O cotidiano e a história” e Laraia “Cultura: um conceito antropológico” como base para a pesquisa, além de produções acadêmicas como procedimento técnico.
1 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM FENÔMENO CULTURAL
A cultura, no sentido amplo, significa a maneira total de viver de um grupo, uma sociedade, um país ou uma pessoa, podendo ser pensada como uma forma de relacionamento do ser humano com o que entende que seja a realidade que o cerca. (LARAIA, 1986; ROCHA; TOSTA, 2009). Já o fenômeno da violência, implica, necessariamente, distinguir (separar, classificar) diferentes tipos de violência como ponto de partida para a construção sociológica de uma questão social, que aos poucos se torna de certo modo cultura, a partir do que se reproduz no cotidiano (ROCHA; TOSTA, 2009).
Convergindo esses dois termos, cultura e violência, Laraia (1986) explica que violência é um fenômeno complexo que envolve fatores individuais, relacionais, comunitários e sociais, citando a sua relação aos valores culturais, às expectativas em relação aos papeis de gênero, às desigualdades sociais e ao abuso nas relações de poder. Pode-se dizer assim, que cultura e violência possuem uma relação de interdependência, onde esta se encontra inserta naquela, ou seja, as peculiaridades culturais dão sentido aos novos conceitos de violência. Nas palavras de Rocha e Tosta (2009),
A cultura passa a ser vista como uma forma de institucionalização e organização do comportamento humano, sendo sua função fornecer respostas satisfatórias ao que se impõe como necessidade vital do homem. A cultura é, então, funcionalmente, produtora de equilíbrio e manutenção da ordem social (p. 96)
Logo, a cultura relaciona-se ao comportamento humano e é exteriorizada por meio de ordens simbólicas que caracterizam a realidade. Desta feita, se pode afirmar que a violência doméstica é um fenômeno cultural que ao longo dos séculos se tornou também um problema de ordem social e de saúde pública advindo do comportamento das pessoas que convivem em sociedade e refletindo, por conseguinte, o cotidiano atual.
A violência compreende um ato ou omissão praticado no âmbito do seio familiar, ou seja, no ambiente privado, onde determinado indivíduo sofre algum tipo de abuso por parte de um agressor que pode ser, pai, mãe, cônjuge, parentes de modo geral, bastando que para isso haja uma relação de afeto, causando danos físico, sexual, psicológico, patrimonial, entre outros (AZEVEDO E GUERRA, 2001),
No que concerne às crianças e adolescentes é aquela que ocorre no círculo da família, ou seja, não se restringe à estrutura física, mas denota a existência de um agressor que possua vínculo sanguíneo e/ou afetivo. Apesar de possuir o poder/dever de proteger a criança ou o adolescente, “coisifica” a infância, tratando-os como meros objetos, uma vez que seus direitos como sujeitos em desenvolvimento passam a ser negligenciados.
Diante dos significados atribuídos à cultura e violência, denota-se que tais atos podem ser caracterizados como ordens simbólicas em relação aos papeis de gênero e ao abuso nas relações de poder que expressam um comportamento social, ou seja a construção de um fenômeno cultural. Na antropologia, estão afetos às concepções adultocêntrica e patriarcal.
A concepção adultocêntrica envolve a visão social que se tem da hierarquia familiar. Ou seja, como deve funcionar a organização de um lar, quem detém o poder familiar e quem está sujeito a ele. Entende-se que, a criança e o adolescente devem se submeter aos pais naturalmente, estando eles na posição e adultos. Entretanto, apesar de serem responsáveis como protetores eles, esse poder muitas vezes não é exercido da maneira correta e é nesse ponto que se abre precedentes para um possível abuso ou violência sem que sejam questionadas, qualquer que seja a espécie entre as já mencionadas.
Por exemplo, Veronese, Gouvêa e Silva (2005, p. 15-6) explicam que a concepção adultocêntrica na legislação brasileira até o início do século XXI esteve fundamentada no “pátrio poder” do direito romano, acentuando a subordinação dos filhos ao pai:
O pater poderia vender o filho, pois este era sua propriedade. Se o filho cometesse algum crime, a ação seria movida contra o pai, pois de toda a família, somente ele poderia comparecer perante os tribunais na Cidade, submetendo-se ao seu julgamento. A justiça, para o filho e para a mulher, se encontrava no lar; seu juiz era o pater, que poderia condená-los à morte, e a nenhuma autoridade caberia modificar sua sentença.
Saffioti (2004) entende que o abuso diz respeito a algo excessivo ou injusto que contraria os bons costumes estando implícita a ideia de violência, entendida como uma imposição de um no caso o adulto, que viola direito(s) de outro, no caso a criança.
Nessa relação, o adulto transgride o poder/dever de proteção coisificando a criança e o adolescente e muitas vezes estes aceitam tal condição em sinal de respeito e obediência a quem detém o poder familiar, um claro aspecto da concepção sociocultural do adultocentrismo. Por isso, parte da sociedade ainda vislumbra a violência intrafamiliar como uma questão privada, que somente diz respeito àqueles envolvidos no núcleo familiar.
O modelo patriarcal em si faz relação com o uso da força, com a virilidade, poder e dominação. Os núcleos familiares contemporâneos desvinculam o universo masculino do poder familiar como sendo o lado dominador, figura masculina sobre a figura feminina. Isso permite uma visão mais abrangente onde não somente o homem, mas a mulher também vive esse aspecto dominante no seio da família.
E as crianças e adolescentes, por ainda se encontrarem em fase de construção de sua autonomia e alteridade, tem maior dificuldade para efetivar uma eventual ruptura entre o dominador/ responsável e elas dada a sua posição vulnerável e dependente. Isso inclusive dificulta o discernimento da criança acerca da real situação, uma vez que espera que seja amada e protegida por quem na verdade a tem abusado.
As desigualdades das relações de poder entre gêneros. Para Scott apud Chaban (2019), o “gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos; e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (p. 14). Com base nisso, pode-se afirmar que, a violência intrafamiliar é praticada especialmente contra as mulheres e as crianças, por serem estas colocadas em posição de inferioridade e superioridade respectivamente.
Chaban (2019, p. 06) ressalta algo muito interessante a respeito. A autora fala sobre a cultura do silêncio destacada por Leal e como ela se correlaciona ao autoritarismo e ao machismo, como fundamentos da violência intrafamiliar:
O segredo que envolve o núcleo familiar, conforme Faleiros (2001, p. 71) perpassa, “o autoritarismo e o machismo são os fundamentos dessa violência, mas há uma relação de cumplicidade e silêncio entre a mãe, o pai/padrasto, os irmãos e enteados e os vitimizados, [...]”, que expressam dois eixos fundamentais desta relação, os quais são o segredo familiar e o poder. Há uma “cultura do silêncio” destacado por Leal (2014, p. 78), sendo, “uma estratégia utilizada para manter o clima de violência intra e extrafamiliar, a qual é fortalecida pelas práticas coercitivas, por pressões psicológicas, físicas, morais e religiosas”.
Sob a perspectiva das relações intergeracionais, há dois aspectos então, que devem ser levados em consideração, 1) a repetição das práticas de violência entre as gerações – um adulto violento que provavelmente sofreu violência na infância – e, 2) as relações assimétricas de poder intergeracional marcadas por traços adultocêntricos onde as crianças e adolescentes são submetidas a situações de violação de direitos pelo uso da força física e psicológica por quem deveria protegê-las.
2 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM COTIDIANO ATEMPORAL
A violência intrafamiliar conceitua-se como o uso intencional da força ou do poder físico, real ou em ameaça, contra um ente familiar que cause danos ao seu desenvolvimento, quer sejam físicos, psicológicos ou de outra natureza (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). É um fenômeno que acompanha a sociedade desde a antiguidade, e que por ocorrer dentro do lar, muitas vezes é banalizado e descredibilizado.
Fuster (2002) ao afirmar que a família humana é o grupo mais violento dos grupos de animais que habitam na terra, mesmo com a nossa capacidade de raciocínio e discriminação das situações em que estamos envolvidos, o faz levando em conta todos os contextos de violência aos quais o indivíduo está inserido, inclusive os tipos de agressão ocorridos dentro do âmbito familiar em todas as suas formas.
São diversos os tipos de violência a que crianças e adolescentes estão submetidos, desde práticas públicas e institucionais – os homicídios, as dificuldades de acesso à saúde, educação e lazer, a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual comercial, entre outras – até aquelas veladas que ocorrem em âmbito privado dos lares – como é o caso da violência intrafamiliar. É dentro dos lares que encontramos situações de negligência, abandono, violências física e sexual e psicológica, geralmente naturalizadas e banalizadas (SOUZA NETO; NASCIMENTO, 2006).
De forma macro, são quatro os tipos de violência: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual (incluindo aqui a exploração sexual de crianças e adolescentes) e a negligência (apresentada em sua manifestação extrema pelo abandono). As categorias de violência intrafamiliar acima descritas, de acordo com Coelho et. al. (2021) nem sempre são facilmente identificáveis, justamente por ocorrer no ambiente conhecido como lar para o vulnerável, onde aparentemente seria um lugar seguro.
Conforme estatística publicada pela Associação Brasileira multiprofissional de proteção à infância e adolescência, em 93,5% dos casos envolvendo violência contra a criança e o adolescente, o agressor era um membro da família da vítima. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com o apoio da equipe do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), fez um levantamento acerca do assunto, no qual observou que:
Todos os dias, são notificados, em média, 243 agressões de diferentes tipos (física, psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes, entre o nascimento e 19 anos de idade. Em menores de quatro anos, nos últimos anos foram registrados pelo menos 25 casos por dia. Somente no ano de 2019, a soma desses três tipos de registro chega a 88.572 notificações. Cerca de 60% dessas situações tiveram como local de ocorrência declarada o ambiente doméstico e grande parte têm como autores pessoas do círculo familiar e de convivência das vítimas, evidenciando que as vítimas permanecem reféns de seus agressores. (…) Desse total de casos notificados pelos serviços de saúde, 71% (62.537) são decorrentes de violência física; 27% (23.693) de violência psicológica; e 3% (2.342) de episódios de tortura. Este levantamento não considerou variações como violência e assédio sexual, trabalho infantil, entre outros tipos de agressão, que serão abordados pela SBP em publicação posterior. Ao analisar a série histórica nos últimos dez anos – 2010 a 2019 (dados mais recentes disponíveis), o volume de agressões chega a 629.526 registros, ou 173 casos por dia. Impressiona que desde a implantação dessa plataforma, os registros têm crescido de forma consistente. Em 2010, foram 24.040 notificações (média de 66 por dia). Em 2019, foram 88.572. No período analisado, o aumento foi de 268%. (Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 2021).
Quando a violência é praticada por um membro da família, a criança tem a crença de proteção familiar rompida, mesmo que não deixe marcas físicas, deixa a criança vulnerável, podendo torna-la um adulto agressivo e com traumas decorrentes da infância em que viveu.
Todos esses dados corroboram com a importância de buscar a efetivação do direito à convivência familiar, na medida em que a casa é considerada espaço privado e intocável, sendo, portanto, dever de cada membro familiar zelar pelo bem-estar físico, social e psicológico da criança e do adolescente, garantindo que não sofram situações de violência, devendo prevalecer sempre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Essa forma de violência contra crianças e adolescentes não é uma expressão da modernidade, faz parte da história cultural das sociedades desde os tempos mais antigos. Contudo, em virtude da disseminação da importância dos direitos humanos, tem-se evidenciado o cotidiano de milhares de crianças e adolescentes, e consequentemente, impulsionado a busca por propostas interdisciplinares que reduzam a sua incidência e possibilitem o verdadeiro reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.
Para Oliveira et. al. (2016) o descaso com o qual é tratada a violência doméstica é fruto da conivência da sociedade brasileira, que ainda possui enraizado em sua cultura a ideologia do patriarcado, conferindo aos homens poderes maritais e patriarcais aptos a subjugar as mulheres e os filhos deles. E isso, de certo modo, possui relação com a forma com a qual as pessoas enxergam a realidade ao seu redor. Heller (2000) descreve esse contexto como sendo uma “realidade certa” para os participantes da sociedade e cada conduta é dotada de sentido subjetivo originado no pensamento e na ação dos homens, tornando-a, portanto, real.
Assim, tudo o que é tido como realidade advém da soma do pensamento e da ação do homem. No caso da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, tem crescido o número de casos justamente porque o ser humano tem tido essa situação como parte da realidade social, e mesmo quando a problematiza e a entende como sendo uma mazela que deve ser afastada, ela somente pode ser alterada quando for possível distingui-la da visão de mundo tida como certa pelo indivíduo.
Logo, somente é possível vislumbrar e atuar em favor da proteção das crianças e adolescentes contra a violência intrafamiliar, se houver consciência de que existe a realidade daquele que pratica a violência, daquele que sofre a violência e daquele que é mero expectador.
Minha consciência, por conseguinte ,é capaz de mover-se através de diferentes esferas da realidade. Dito de outro modo, tenho consciência de que o mundo consiste em múltiplas realidades. Quando passo de uma realidade a outra experimento a transição como uma espécie de choque. Este choque deve ser entendido como causado pelo deslocamento da atenção acarretado pela transição. A mais simples ilustração deste deslocamento é o ato de acordar de um sonho (HELLER, 2000, p. 38).
A partir do que é dito por Heller, observa-se que, ao longo da história houve um despertar do mero expectador quanto à condição da criança e do adolescente colocando-se em seu lugar a fim de enxergar sua realidade. O “choque” desse momento, pode ser descrito por meio da mudança no cenário social brasileiro através, por exemplo, do ECA, que começou a reconhecer o público infantojuvenil como cidadão de direitos e de obrigações.
Nota-se, então, que crianças e adolescentes passaram a ser considerados parte de um grupo de pessoas vulneráveis merecedoras de atenção especial em razão de sua vulnerabilidade etária (SANTOS, 2003). Isso demonstra que, “enquanto as rotinas da vida cotidiana continuarem sem interrupção são apreendidas como não-problemáticas.” (HELLER, 2000, p. 41), pois, apenas quando houve esse deslocamento, o “acordar do sonho” é que se notou a existência e evolução da violência intrafamiliar no seio doméstico em desfavor do público infantojuvenil.
Como instrumento de combate à esta violência, destaca-se o Sistema de Garantias de Direitos previsto pelo ECA, que prevê a cooperação de órgãos e instituições, entre os quais se encontram os Conselhos Tutelares, a Defensoria Pública, o Ministério Público, entre outros.
Estes são frutos do mesmo fenômeno cultural que identificou a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e a classificou como um problema real a ser combatido. Seria um compilado do conhecimento pragmático, como desponta Heller (2000) que forma um acervo cultural de conhecimento utilizado para atender tais problemas.
3 A EFETIVIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REALIDADE CERTA?
As crianças e adolescentes possuem direito de acesso à justiça conforme preceitua o art. 227 da CF/88. Com efeito, devem ter os seus direitos resguardados pelo Estado, sociedade e família assegurando a este grupo vulnerável “com absoluta prioridade” o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade devendo ser protegida de negligências, discriminação, exploração, violência, entre outros reafirmados pelo artigo 4º do ECA.
No discorrer do dispositivo legal, o Estado deve promover programas de assistência, além de observar as garantias necessárias para a efetivação do direito à proteção especial, onde se inclui a assistência jurídica nos termos da lei. No estudo de um fenômeno cultural qualquer, tudo deve ser observado, anotado, vivido, analisado, mesmo aquilo que não está (direta e aparentemente) ligado ao fenômeno em estudo. (LARAIA, 1986).
Essa análise permite encontrar o cerne do problema e sugerir soluções, tal qual, a criação e função de mecanismos de efetivação dos direitos infantojuvenis. De acordo com Heller,
meu conhecimento da vida cotidiana tem a qualidade de um instrumento que abre caminho através de uma floresta e enquanto faz isso projeta um estreito cone de luz sobre aquilo que está situado logo adiante e imediatamente ao redor, enquanto em todos os lados do caminho continua a haver escuridão. (2000, p. 66).
Assim sendo, para real efetivação dos direitos das crianças e adolescentes existe uma organização de mecanismos que se dividem em três eixos: promoção, defesa e controle social (BRASIL apud BASTOS, 2015). “O eixo defesa reúne órgãos como Defensorias Públicas, Conselhos Tutelares, Ministérios Públicos, Poder Judiciário, com a função de intervir nos casos em que os direitos de crianças e adolescentes são negados ou violados.” (ASSIS apud BASTOS, 2015, p. 86).
Com fulcro no art. 3º do ECA, gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. No entanto, em virtude de sua incapacidade de exercício, por serem indivíduos em desenvolvimento, a lei lhes assegura oportunidades e facilidades que garantam sua observância e aplicabilidade por meio da proteção integral, que é teoria principal no Brasil adotada desde 1988, reconhecendo as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que merecem cuidados e proteção especiais, inicialmente, em decorrência de vulnerabilidade etária.
Desta feita, num panorama geral, apenas por livre escolha o ser humano pode ignorar a realidade da vida cotidiana que o cerca e assim, prevalecer a particularidade, ou sua individualidade sobre a generacidade, ou seja, o individual sobre o coletivo, o todo. Heller aponta o seguinte:
A vida cotidiana está carregada de alternativas, de escolhas. Essas escolhas podem ser inteiramente indiferentes do ponto de vista moral (por exemplo, a escolha entre tomar um ônibus cheio ou esperar o próximo); mas também podem estar moralmente motivadas (por exemplo, ceder ou não o lugar a uma mulher de idade). Quanto maior é a importância da moralidade, do compromisso pessoal, da individualidade e do risco (que vão sempre juntos) na decisão acerca de uma alternativa dada, tanto mais facilmente essa decisão eleva-se acima da cotidianidade e tanto menos se pode falar de uma decisão cotidiana. Quanto mais intensa é a motivação do homem pela moral, isto é, pelo humano-genérico, tanto mais facilmente sua particularidade se elevará (através da moral) à esfera da generacidade. Nesse ponto, termina a muda coexistência de particularidade e generacidade (2000, p. 24).
Certamente, cada indivíduo tem participação em cada aspecto do seu cotidiano, e por isso deve buscar motivação moral para que suas escolhas sejam dotadas dela. A violência familiar retrata fatos que ocorrem no lar, onde se espera que familiares e parentes tomem providências necessárias em casos em que as crianças e adolescentes estejam em situação de risco. No entanto, muitas vezes se fazem omissos, requerendo uma intervenção supletiva da sociedade e do Estado. Cabe à sociedade e ao Estado nessa situação resguardar os direitos infanto-juvenis através de denúncias aos órgãos competentes. O ECA prevê uma série de mecanismos (administrativos/políticos e jurídicos) visando a coibir a vitimização no âmbito das relações familiares. Isto é reconhecer a importância da moralidade e do compromisso com o “humano-genérico”.
De acordo com estudo da Unicef (2005) a violência vem sendo considerada em termos de prevenção e intervenção há apenas cerca de três décadas. Os estudos evidenciam que geralmente não se sabe como a intervenção vai ser recebida pelas famílias, uma vez que cada uma responde de modo peculiar. Por outro lado, observa-se mudança nas relações familiares com o passar do tempo o que propicia significativa alteração do curso da aplicação dos mecanismos de proteção à criança e ao adolescente.
Mediante dados da Unicef, ficou constatado que a violência cessa após a intervenção, mesmo que temporariamente. Em curto prazo, os resultados costumam ser favoráveis e, em longo prazo, uma possível desintegração da família ou a institucionalização da criança podem representar um novo dano para esta, tornando a violência um ciclo vicioso que dificilmente terá seus males extintos. (UNICEF, 2005).
Atualmente, mesmo que tenha havido uma alteração no conceito de quem são as crianças e adolescentes e no que diz respeito aos seus direitos, ainda assim, a prática caminha para o lado oposto. Por isso, a realidade tida como certa não reflete o disposto na Declaração Universal dos Direitos das Crianças que, reforça que as crianças e os adolescentes são “sujeitos de direitos em todas as esferas jurídicas, e que pela sua condição de imaturidade física e mental, necessitam de cuidados especiais e proteção jurídica.” (MAZZUOLI, 2019, p. 315).
Ou ainda, o que diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que aduz quatro pilares fundamentais sobre os quais se firma a Convenção sobre os Direitos da Criança, e um deles se refere à opinião da criança, que significa ouvir a sua voz e levar em conta em todos os assuntos relacionados aos seus direitos (MAZZUOLLI, 2019).
A efetividade dos direitos das crianças e adolescentes encontra-se perdida na sociedade “moderna” conforme expõe Heller, onde a “estrutura cotidiana, baseada na individualidade, aumenta a possibilidade de submissão do humano-genérico à particularidade.” (2000, p. 23). E para concluir, afirma que, a única forma de inverter essa situação é “suscitar a ética como uma necessidade da comunidade social. As exigências e normas da ética formam a intimação que se dirige ao indivíduo e faz a particularidade se submeter ao genérico.” (HELLER, 2000, p. 23).
Portanto, questões relacionadas à saúde, educação, ao sistema socioeducativo, convivência familiar e comunitária, adoção, são matérias que não só permitem, mas suscitam a atuação do Sistema de Garantias – representante do Estado –, da sociedade e principalmente da família, garantindo-lhes que tais direitos não sejam ignorados ou sejam prestados de maneira deficiente.
Em outras palavras, não se pode olvidar dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral que permeiam o ECA e que o próprio Estatuto as coloca como vulneráveis em razão de sua incapacidade por estarem em desenvolvimento físico, mental, moral etc. Daí a criação de tantas leis, como a Maria da Penha que recentemente foi modificada para abranger familiares em situação de vulnerabilidade, tal como as crianças e adolescentes, idosos, de programas e políticas públicas que alcancem o seio familiar e permitam que esse fenômeno cultural, que também é uma questão de saúde pública seja combatido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O enfrentamento à violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes constitui-se em um desafio por se apresentar em tantas formas diferentes. A vítima é dependente de seu agressor, que pode ser qualquer ente familiar. Constitui-se como fenômeno cultural que ao longo dos tempos tem sido vista sob os olhos da vida cotidiana, dos aspectos histórico-culturais e dos preconceitos concluindo-se por ser uma mazela social que não merece espaço.
A violência é um recurso que não serve para equilibrar os ambientes em que o indivíduo se encontra inserido, e tampouco é chave para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Em verdade, é um problema que enseja soluções urgentes para equilibrar a justiça social de maneira correta.
O ambiente familiar deve proporcionar segurança, amor e paz a indivíduos tão frágeis e sensíveis. Contudo, diante de uma construção cultural, se tornou instrumento de ódio e violência, ou seja, emoções humanas que não causam e nem promovem a racionalidade, pelo contrário, tornam o mundo mais violento.
Em 2020 foi realizado na Bahia o III Encontro de Defensores Públicos e Defensoras Públicas da Infância organizado e promovido por meios virtuais pela Defensoria Pública do Estado, e na ocasião, a Defensora Pública palestrante Danielle Bellettatto destacou a importância de trazer ao processo a vontade das crianças e dos adolescentes:
[...] o Direito da Infância deve levar para dentro do processo a vontade das crianças e dos adolescentes, que não devem ser tratadas como “objetos” nos processos. (grifo nosso) “Como que nós adultos podemos decidir o que é melhor para aquela criança sem considerá-la como sujeito? Quando um agente público fala em melhor interesse da criança, cabe perguntar: melhor interesse sobre o ponto de vista de quem?” [...] Dizer que a criança é sujeito de Direito é dizer que ela é titular de todos os direitos fundamentais como qualquer outra pessoa. Ela tem direito de defesa, de participação, moradia, etc. Assim como, por exemplo, em outras épocas escravos e mulheres eram alijados desta titularidade de direitos, também o foram as crianças. É a partir da doutrina de proteção integral que escolhemos elevar à criança ao patamar de sujeito de direito”. (DPE-BA. 2020).
As crianças e adolescentes são sujeitos especiais que precisam de atenção específica e preferencial. Portanto, os direitos delineados no discorrer desta pesquisa demonstram a necessidade de proteger as crianças e adolescentes das injustiças, maus tratos, abandono, qualquer tipo de exploração e violação de direitos dentro e fora dos sistemas protetivo e socioeducativo.
Desta feita, é notória a necessidade de se olhar para esse grupo de vulneráveis que, como bem colocado pela UNICEF (2021), são “vítimas ocultas” do sistema a qual estão inseridas. Eis aí a finalidade de se enxergar a vida cotidiana que cerca a sociedade e colocar-se em lugar desse grupo de vulneráveis.
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Mania de bater: a punição corporal doméstica de crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2001.
BASTOS, Angélica Barroso. Direitos Humanos das crianças e dos adolescentes: as contribuições do Estatuto da Criança e do Adolescente para a Efetivação dos Direitos Humanos Infanto-Jovenis. Curitiba: Juruá, 2015, 159 p.
_____________. Lei nº 8.069 de 1990. Brasília: 13 de julho de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 12 abr. 2021.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: 05 de outubro de 1988. Disponível em:https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_atual/art_127_.asp#:~:text=127.,interesses%20sociais%20e%20individuais%20indispon%C3%ADveis. Acesso em: 6 abr. 2021.
CHABAN, Leila. Abuso sexual: infância, relações sociais e patriarcado. Revista do Ceam, ISSN 1519-6968, Brasília, v. 5, n. 1, jan./jul. 2019. Disponível em: file:///C:/Users/usuario/Downloads/santillan,+document.pdf. Acesso em: 16 dez. 2024.
COELHO et al. Violência contra crianças e adolescentes: notificações e alerta em tempos de pandemia. Revista Paulista de Pediatria, v. 39, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rpp/a/Ghh9Sq55dJsrg6tsJsHCfTG/?lang=pt. Acesso em: 02 fev. 2023.
DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA (DPE-BA). Manual de Jurisprudências: Custos Vulnerabilis. Editora: ESDEP. 2020. Disponível em: http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_150121-043733.pdf. Acesso em: 12 abr. 2021.
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 384.
FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). Os direitos das crianças e dos adolescentes. Unicef.org, [2021]. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/os-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes>. Acesso em: 23 abr. 2021.
FUSTER, E. G. As víctimas invisibles de la violência familiar: el extrano iceberg de la violência doméstica. Paidós, Barcelona, 2002.
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra S/A, 2000.
HINGEL, Lara Luiza Lemos Machado et al. Consequências no desenvolvimento da criança e adolescente vítima de violência intrafamiliar. [S.l.] Revista PróUniverSUS, 2021, Jul./Dez. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/353675907_Consequencias_no_desenvolvi mento_da_crianca_e_adolescente_vitima_de_violencia_intrafamiliar. Acesso em: 27 set. 2022.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 606 p.
OLIVEIRA, Euclides de. Alienação Parental e as nuances da parentalidade – guarda e convivência familiar. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.) et al. Tratado de Direito das Famílias. 2. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 1064.
ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra Pereira. Antropologia e Educação. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2009.
SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.
SANTOS, Marcelo Loeblein dos. A Realidade Infanto-Juvenil e o ECA. [S.l.] Revista Direito em Debate, 2003, v. 12, n. 20. Disponível em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/744. Acesso em: 27 set. 2022.
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Quase 250 casos de tortura, violência física ou psicológica contra crianças e adolescentes são notificados todos os dias no Brasil (2021). Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/quase-250-casos-de-tortura-violenciafisica-ou-psicologica-contra-criancas-e-adolescentes-sao-notificados-todos-os-diasno-brasil/. Acesso em: 27 set. 2022.
SOUZA NETO, João Clemente de; NASCIMENTO, Maria Letícia B.P (orgs.). Infância: violência, instituições e políticas públicas. – São Paulo: Expressão e Arte, 2006.
UNICEF. Análise da violência contra a criança e o adolescnete segundo o ciclo de vida no Brasil/ Helena Oliveira da Silva e Jailson de Souza e Silva. São Paulo: Global; Brasília; Unicef, 2005.
VERONESE, Josiane R. P.; GOUVEA, Lúcia F. B.; SILVA, Marcelo F. Poder Familiar e Tutela: à luz do Novo Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2005.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Violence Prevention Alliance. Definition and typology of violence [Internet]. Geneva: 2014. Disponível em: http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/index.html. Acesso em: 02 fev. 2023.
Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania na Universidade Estadual de Roraima (UERR).
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: COSTA, REBEKA SOUSA DA. Violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e a efetivação de seus direitos: uma análise antropológica e jurídica sob a perspectiva de Heller e Laraia Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 17 fev 2025, 04:32. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/67819/violncia-intrafamiliar-contra-crianas-e-adolescentes-e-a-efetivao-de-seus-direitos-uma-anlise-antropolgica-e-jurdica-sob-a-perspectiva-de-heller-e-laraia. Acesso em: 06 maio 2025.
Por: IGOR DANIEL BORDINI MARTINENA
Por: Patricia de Fátima Augusta de Souza
Por: André Luís Cavalcanti Chaves
Por: Lara Pêgolo Buso
Por: Maria Guilhermina Alves Ramos de Souza
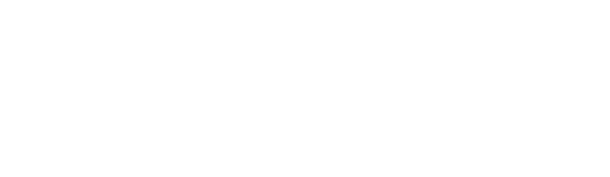
Precisa estar logado para fazer comentários.