

No âmbito de uma teoria geral, a execução se divide em duas modalidades: execução direta por sub-rogação, que pode ser por expropriação, desapossamento ou transformação; e execução indireta por coerção, que pode ser pessoal (prisão civil) ou patrimonial (multa).
A penhora é o principal instrumento da execução por sub-rogação expropriativa, que é o rito da execução por quantia certa contra devedor solvente. Ela se qualifica como um ato premonitório, que afeta o bem, a fim de sujeitá-lo aos fins da execução. Visa segregar bens do devedor, não importando de imediato a perda da posse ou do domínio. Consiste em um vínculo processual que afeta os bens à execução.
Qualquer ato de disposição do bem penhorado será ineficaz ao credor, podendo ainda configurar o crime do art. 179 do CP, cuja ação penal é de natureza privada. Dentre os efeitos da penhora estão a garantia do juízo, a concentração da atividade executiva sobre o bem e o direito de preferência. A sujeitabilidade, a segregação e a afetação são as principais características desse ato constritivo.
A penhora está estreitamente vinculada a institutos de direito processual e material, a exemplo da responsabilidade patrimonial, patrimônio, coisa e bem. A responsabilidade patrimonial é a sujeitabilidade do patrimônio do devedor às medidas executivas, e vem prevista nos arts. 391 do CC e 789 do CPC. Pode ser primária ou secundária.
Por sua vez, patrimônio é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, com conteúdo econômico, vale dizer, mensuráveis em dinheiro. Já coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. Por fim, bens são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. Os bens estão previstos nos arts. 79 a 103 do CC, enquanto as coisas são tratadas nos arts. 1.196 a 1.510-E do mesmo códex.
Tendo o Código Civil encampado o conceito de bem como coisa suscetível de apropriação e com conteúdo econômico, será sobre ele que a penhora recairá. Ela terá como limite máximo “tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, e como limite mínimo “as custas da execução”, conforme expresso, respectivamente, nos arts. 831 e 836 do CPC.
A documentação da penhora deve ser feita por auto ou termo, este último no caso de o ato prescindir de diligência externa. Para sua perfeita formalização, deve ser realizada a avaliação do bem e nomeação de um fiel depositário, seguindo-se os atos expropriatórios, segundo a moldura legal que resulta da conjugação dos arts. 838, 839 e 875 do CPC.
Os atos de efetiva expropriação estão dispostos no art. 825 do CPC, com preferência pela adjudicação, conforme o art. 880 do CPC. A adjudicação importa em expropriação satisfativa. Já a alienação, seja ela pública ou particular, importa em expropriação liquidativa, uma vez que primeiramente os bens serão convertidos em dinheiro, para só então satisfazer o crédito, segundo a dicção do art. 904 do CPC.
Quanto à sua natureza jurídica, pode-se de antemão afastar todo e qualquer entendimento de que a penhora seria um direito real de garantia. Também deve ser afastado o entendimento de que a penhora possuiria natureza cautelar.
É certo que, por meio da penhora, ocorre a individualização e a indisponibilidade do bem do executado. Isto não torna a penhora uma cautelar, pois tal ato é o primeiro ato executivo. Não possuem os atributos da referibilidade ou acessoriedade, típicos das cautelares. O simples fato de o bem penhorado ficar sob a proteção do Judiciário, o qual deverá, por meio do depositário, conservar o bem até que ele seja expropriado, não torna a penhora uma cautelar. (TARUFFO, Michele; FERRI, Corrado; COMOGLIO, Luigi Paolo. Lezioni sul processo civile, p. 349).
A penhora, assim, possui natureza de ato executivo, por meio do qual se apreende bem do executado, individualizando-o para a posterior expropriação e satisfação do credor. Ou seja, “a penhora não retira a propriedade do executado” promovendo a afetação do bem aos fins da execução. (Marcelo Abelha Rodrigues, EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - 1ª ED – 2021, Editora Foco, página 279).
De fato, a penhora, a avaliação e a expropriação constituem subfases distintas da execução, com o Superior Tribunal de Justiça consagrando o entendimento de que a avaliação não é indispensável à penhora, sendo pressuposto da alienação judicial. Logo, sua ausência é mera irregularidade, que não inibe o prosseguimento da execução e o oferecimento de embargos e impugnações.
Por seu turno, o art. 875 do CPC é expresso ao dispor que realizadas a penhora e avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem, deixando claro que a penhora não se constitui em ato expropriativo.
Quanto ao encargo de fiel depositário, prevalece na jurisprudência que se trata de relação de detenção do bem, exceto se o nomeado for o próprio executado, conforme permissão do art. 840, § 2º, do CPC, quando então ele manterá a posse direta do bem, sem ser despojado de seu domínio.
A esse respeito, o art. 1.196 do CC encampou a teoria objetiva da posse, elaborada por Rudolf von Ihering. Por meio dela, a posse se caracteriza tão somente pelo “corpus”, conceito que inclui a “affectio tenendi”, consistente no “animus” de agir como se fosse o proprietário. Desta forma, não é necessária a vontade de ter a coisa para si (“animus domini” ou “animus rem sibi habendi”), estabelecida na teoria subjetiva de Savigny, para caracterizar a posse, bastando a vontade de agir como se proprietário fosse.
Por sua vez, o art. 1.197 do CC prevê a mediatização da posse, consistente em seu desdobramento em posse direta e indireta, ou posse imediata e mediata. Já o art. 1.198 do CC dispõe sobre os atos de mera detenção, ou fâmulo da posse. A doutrina entende por posse própria quando é exercida com “animus domini”, ou vontade de ter a coisa como sua. E posse imprópria a que não possui esse “animus”.
Nessa toada, para a teoria objetiva, determinados atos caracterizam a posse, enquanto para a teoria subjetiva, os mesmos atos consistiriam em mera tença. Como exemplo, no contrato de locação, o locatário é posseiro, exercendo a posse direta, à luz da teoria objetiva. Para a teoria subjetiva, contudo, o locatário é mero detentor do bem.
Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito Privado (Tomo 10), leciona que: “no fato jurídico strito sensu da detenção ou tença, a irradiação de eficácia é quantitativamente e qualitativamente inferior à irradiação de eficácia do fato jurídico strito sensu da posse”.
A tença ou detenção é uma posse degradada, juridicamente desqualificada. Nessas situações, o legislador entendeu que o poder fático sobre a coisa não alcança repercussão jurídica. O art. 1.208 do CC dispõe que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Assim, a tença não constitui posse por lhe faltar o “animus tenendi”.
No magistério de Araken de Assis: "A penhora concede ao Estado a posse mediata imprópria do bem. Depois da penhora, o executado retém somente a posse mediata própria," pois o devedor, após a penhora, não é devedor sem posse ". Nada obstante, a posse imediata permanece com o devedor, se investido da função de depositário (art. 840, § 2.º), inclusive provisoriamente (art. 836, § 1.º), ou subsiste na pessoa de terceiro, possuidor em virtude de contrato (v.g., locatário, comodatário). Nomeado depositário, altera-se o título da posse imediata do executado, mas continua posse imediata, como a de qualquer outro possuidor." Mesmo quando o executado permanece depositário dos bens ", explica-se no direito português," a sua posse é exercida nessa qualidade e não como titular de um direito real sobre eles". (Manual de Execução, editora Revista dos Tribunais, 18º Edição, 2016).
A manutenção da posse mediata pelo devedor tem por consequência a restituição imediata da coisa penhorada, dissolvida a constrição (v.g., colhendo o devedor êxito nos embargos). A existência de posse imediata do executado, de terceiro ou de depositário possui especial relevo em seguida à alienação forçada. Desejando apossar-se da coisa, em princípio o adquirente dependerá de simples determinação judicial, ordenando ao depositário a entrega da coisa, objeto de previsão no art. 880, § 2º, no art. 901, § 1º e art. 903, § 3º. Mas, perante posse de terceiro, deverá utilizar o remédio processual adequado à situação (v.g., a ação de despejo contra o inquilino, prevista no art. 8º da Lei 8.245/1991).
Paralelamente à reorganização da posse, a penhora impõe limites ao uso e gozo da coisa penhorada. Esse efeito decorre da tutela ao mecanismo expropriatório. Enquanto a subtração, a supressão, a destruição, a dispersão e a deterioração da coisa penhorada constituem ilícito penal (art. 179 do CP), não houvesse a constrição, e em princípio, ao proprietário afigurar-se-ia lícito destruir o que é seu.
Em consequência, feita a penhora, fica interditada a remoção e o transporte da coisa penhorada pelo executado e seus prepostos, salvo autorizando o juiz que o bem continue afetado à sua atividade econômica, como acontece com navios e aeronaves (art. 864). Atente-se, ainda, que não se autoriza ao devedor receber o pagamento de seu crédito, se objeto de penhora (art. 855, II).
Frutos se compreendem na constrição - no caso de gravame instituído na cédula de crédito bancário, há norma expressa: art. 34, caput, da Lei 10.931/2004 -, salvo explícito pronunciamento em contrário, quer para evitar que o executado fique privado dos rendimentos, quer para evitar encargos com a administração do prédio, não sendo os frutos necessários.
O art. 34, § 2.º, da Lei 10.931/2004 proíbe, sem prévia autorização do credor, a alteração, a retirada, o deslocamento, a destruição e a alteração da afetação econômica do objeto da garantia, salvo tratando-se de veículos e de semoventes, ou se o deslocamento for inerente à atividade do devedor ou do terceiro prestador da garantia.
Esta regra se aplica antes da execução e, a fortiori, após a realização da penhora. A perda ou a restrição ao poder de fruição da coisa penhorada têm efeitos relativos. Completando a precedente ineficácia agregada ao poder de dispor, visam a tornar impossível a subtração do bem à finalidade do meio executório. De modo algum a penhora implica, automaticamente, a imediata desafetação do bem de sua natural atividade produtiva.
Em outras palavras, a utilidade econômica do bem haverá de permanecer incólume. Fica claro o princípio na disposição do art. 864, segundo o qual, na penhora de navio e de aeronave, esses bens continuam operando, mas, como se sujeitam a riscos excepcionais, caberá ao executado segurá-los. Não se revela diferente o disposto no art. 36 da Lei 10.931/2004, que permite ao credor da cédula de crédito bancário exigir o seguro do bem gravado, empregando a indenização, verificado o sinistro, na solução da dívida.
Sobre o depósito do bem penhorado, Araken de Assis preleciona (Id., Ibid.): “O depositário não possui a disponibilidade jurídica da coisa. O domínio subsiste com o executado. Mas, ostentando a disponibilidade material, pois, na maioria das vezes, usufrui a posse imediata, não é lícito utilizá-la em seu próprio proveito. Desta sorte, penhorado veículo de via terrestre (art. 835, IV), o uso dependerá de explícita autorização judicial e beneficiará o executado, ou, se for o caso, a massa ativa.”
Recaindo a penhora em bem frutífero, o depositário perceberá os frutos, ressalva feita ao direito real de terceiros. A locação precisa ser previamente autorizada (v.g., no caso de imóvel de incapaz, o art. 896, § 3º), porque vínculos dessa natureza propiciam fraude contra a execução. Todos os rendimentos, provenientes ou não do trabalho do depositário, aproveitam à massa ativa e, em última análise, à execução.
É conveniente ao depositário requerer a alienação antecipada do bem penhorado, nos termos do art. 852, quando for excessivo o custo da manutenção da coisa perecível - naturalmente, o depositário atenderá às despesas normais de conservação, v.g., pagando o aluguel da garagem onde se encontra o veículo -, ou ainda, conforme prevê o inc. II do art. 852, configurando-se manifesta vantagem da alienação, em virtude das condições favoráveis de mercado.
O negócio jurídico de depósito concede ao depositário, em geral, a posse imediata da coisa, ou, na pior das hipóteses, a posse mediata. O executado continua titular do domínio. Nomeado depositário, o título de sua posse imediata se altera, deixando de ser em nome próprio.
Em razão do regime da posse no direito pátrio, tanto o depositário, quanto o executado ostentam legitimidade para promover em juízo os interditos possessórios porventura cabíveis. Porém, somente o executado pode reivindicar, porque titular do domínio.
Legitima-se o depositário, por igual, no concernente às medidas de urgência relativas à conservação da coisa. Para tais iniciativas, concernentes aos poderes ordinários de administração, de nenhuma autorização judicial prévia carece o depositário. Finalmente, ao depositário socorre legitimidade recursal.
A penhora é ato destinado, cedo ou tarde, a convolar-se num dos meios executórios previstos no art. 925, I a III, do CPC ou a desaparecer no caso de êxito da oposição do executado tendente a repelir a execução injusta ou a ilegalidade da constrição (art. 917, II, 1ª parte).
Por um lado, essa peculiar condição do ato processual limita a duração do depósito, extinguindo-o por um desses motivos; e, de outro lado, origina o dever de devolver a coisa penhorada, no momento de sua destinação final.
O código civil estabelece no art. 1.228 os poderes inerentes ao direito real de propriedade. O exercício de algum desses poderes caracteriza a posse, conforme art. 1.196. O domínio importa o ius utendi, ius fruendi e ius disponendi, além do direito de reaver a coisa e o direito de sequela. De outro giro, o art. 1.267 determina que a tradição da coisa é elemento essencial para a transferência da propriedade móvel.
A penhora não recai sobre toda e qualquer coisa, mas apenas nas coisas qualificadas como bens, conforme art. 789 do CPC. Desta forma, somente quando o executado for efetivamente desapossado do bem é que restará caracterizada a transferência da propriedade móvel pela tradição. No tocante à transferência da propriedade imóvel, o art. 1.245 do CC exige registro do título translativo no Registro de Imóveis, com expedição de ordem de imissão na posse, se for o caso.
Na alienação e na adjudicação são expedidas cartas para o apossamento dos bens arrematados e adjudicados. No caso de não atendimento, a lei prevê a expedição de ordem de entrega dos bens. O art. 901, § 1º, do CPC dispõe que a ordem de entrega do bem ao arrematante será expedida após efetuado o depósito, bem como feito o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas da execução. O dispositivo é complementado pelos arts. 880, § 2º, II e 903, § 3º, do CPC.
O art. 903, "caput", do CPC determina que assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Sem embargo da dicção legal, é certo que somente após a remoção e entrega dos bens ao arrematante é que o valor do depósito poderá ser entregue ao credor para satisfação da dívida, conforme os arts. 905 e 906 do CPC.
A jurisprudência dos tribunais é farta no acolhimento de pedidos de desistência de arrematação, mesmo após a assinatura do auto, mitigando-se o teor do art. 903 do CPC. São arestos oriundos de TRTs, TRFs e TJs, em sede de recursos próprios dos incidentes da execução, julgados à luz do novo CPC. As razões para a desistência da arrematação após a assinatura do auto são diversas, porém, deve ter uma justa causa demonstrada. Conclui-se, assim, que a arrematação somente restará definitiva quando da remoção e entrega dos bens ao arrematante.
A adjudicação segue rito semelhante, com a ordem de entrega dos bens ao adjudicante prevista no art. 877, II, do CPC.
Desta forma, a tradição que importa transferência da propriedade se dará com a remoção e entrega dos bens arrematados ou adjudicados. O desapossamento do executado de bens corpóreos necessita ser efetiva, conferindo a propriedade alodial ao arrematante ou adjudicante, com poderes plenos inerentes ao domínio. Na adjudicação, ressalva-se a hipótese em que o adjudicante já estava na posse direta dos bens, em virtude de nomeação do exequente no encargo de fiel depositário.
É usual o executado oferecer proposta pelos bens por ocasião do cumprimento da ordem de entrega. A prática é tão comum que existem arrematantes especializados em leilões judiciais, buscando primordialmente negociar acordos com os executados pelos bens arrematados, sem propriamente terem interesse em removê-los.
Compete ao exequente fornecer os meios para a execução. Idêntico ônus recai sobre o arrematante, conforme previsto nos editais de leilões judiciais. O mesmo ocorre com o adquirente nas alienações particulares. A proposta do executado ocorre na maioria das vezes quando os bens são removidos pela capatazia para os veículos de transporte.
O executado se vê premido pela iminente perda dos bens e oferece um valor pecuniário por eles. O acordo se assemelha a um contrato verbal de compra e venda entre arrematante e executado. O art. 481 do CC dispõe que na compra e venda o contratante se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Como o domínio já foi transferido ao arrematante por ocasião da homologação judicial e expedição da ordem de entrega dos bens, o negócio é válido e eficaz.
O comprador-executado, ainda não despojado dos bens, exerce posse direta sobre eles. Por sua vez, o vendedor-arrematante ou adjudicante vende seu domínio sobre os bens ao executado, desistindo do desapossamento. O arrematante tornou-se proprietário dos bens por ocasião da expedição da ordem de entrega, logo, o objeto do contrato é unicamente o domínio sobre eles.
A própria adjudicação se assemelha a um contrato de dação em pagamento, adaptado para a execução forçada. Ao contrário do Código Civil anterior, o art. 356 do CC/02 permite que a obrigação se extinga mediante a execução de uma prestação diversa, de qualquer natureza, inclusive dinheiro. Quando o adjudicante procede à remoção dos bens, já possui o domínio sobre eles, buscando complemetá-lo com a posse direta. Logo, é possível ao executado comprar os bens do adjudicante, evitando sua retirada do estabelecimento.
Esse procedimento executivo, apesar de atípico, se encaixa na liberdade das formas da execução, expresso nos arts. 798, II, a, e 190, do CPC. Além disso, confere preferência à satisfação do crédito em dinheiro, conforme a ordem do art. 835 do CPC.
Em consequência da compra e venda realizada no âmbito da diligência de remoção e entrega dos bens, eles retornarão ao patrimônio do executado, podendo incidir penhoras subsequentes. A hipótese poderá configurar o concurso singular do art. 908, § 2º, do CPC. A remoção dos bens ao veículo de transporte pela capatazia, por ocasião do cumprimento da ordem de entrega, não se qualifica como tradição, uma vez que não houve efetivo desapossamento. Deveras, nessa circunstância, os bens ainda permanecem na órbita de vigilância do executado. Somente com a retirada do bem do estabelecimento do executado, e seu efetivo transporte para outra localidade, é que se considera perfectibilizado o desapossamento, caracterizando a tradição do bem.
A jurisprudência entende que a propriedade do bem é transferida para o adjudicante ou arrematante no instante em que a ordem de entrega é expedida, com a homologação judicial. No entanto, a posse direta do bem somente se configura após seu transporte a outra localidade, quando então o arrematante poderá exercer os direitos inerentes ao domínio, tais como o de uso e fruição do bem.
Estando o executado no encargo de fiel depositário, exercerá a posse direta sobre o bem, podendo usá-lo e fruí-lo, bem como reavê-lo de quem ilegitimamente o detenha. Entretanto, não poderá dispor do bem, como doá-lo, vendê-lo ou empenhá-lo. Consequentemente, com a penhora do bem e a nomeação do executado como fiel depositário, será ele despojado de um dos poderes inerente à propriedade, a saber, o ius disponendi.
Nessas circunstâncias, a posse indireta ficará com o juízo da execução, de onde emanou a ordem de penhora, ficando o executado com a posse direta. Mesmo que o ato de constrição seja cumprido em juízo diverso, a exemplo da carta precatória executiva, a posse indireta ainda restará com o juízo da execução originário, a quem caberá dispor do bem como entender devido para a satisfação do crédito.
O CPC português prevê a aposição de selos nos bens penhorados, a fim de especificá-los. No CPC brasileiro, há previsão de especificação dos bens no auto ou termo de penhora, inclusive com a fotografia dos bens penhorados. A fotografia dos bens é prevista em atos normativos expedidos pelos tribunais, assemelhando-se aos selos do direito processual português.
Não é incomum os bens já terem sido vendidos ou estarem deteriorados quando da remoção pelo arrematante. Isso ocorre nos casos em que há lapso de tempo considerável entre a penhora e o leilão judicial, em especial no caso de ajuizamento de embargos. Nesses casos, a remoção pode prosseguir em bens fungíveis, do mesmo gênero e quantidade, dos originalmente penhorados.
Se o beneficiário da remoção for o próprio exequente, é possível a remoção de bens mais valiosos, para cobrir o valor atualizado da execução, ou mesmo para integralizá-la, desde que concordes ambas as partes, caracterizando um acordo processual, em se tratando de direito que admite autocomposição.
Na arrematação, é possível que o próprio exequente utilize seus créditos na execução para oferecer lances. Nessa situação, arrematado o lote de bens e expedida a ordem de entrega, haverá convolação em adjudicação. A vantagem desse rito é permitir a adjudicação dos bens por preço não vil. Isso porque, o art. 876, § 4º, I e II, do CPC determina que a adjudicação seja efetuada pelo valor da avaliação.
Por sua vez, o art. 895, I e II, do CPC estipula que a arrematação será realizada pelo valor da avaliação no primeiro leilão e por preço não vil no leilão seguinte. O preço não vil pode ser de até 50% do valor da avaliação, conforme o art. 891, parágrafo único, do CPC. Excepciona-se o imóvel de executado incapaz, cujo valor não vil é de 80% da avaliação, segundo se extrai da interpretação do art. 896 do CPC.
Assim, poderá o exequente adjudicar os bens penhorados pelo valor pago na arrematação, e não pelo valor da avaliação. A depender da disputa de lances, os valor arrematado pode ser inferior à avaliação. Evita-se, assim, uma discriminação injusta do adjudicatário. O procedimento concilia o princípio do resultado com o princípio da menor onerosidade, expressos nos arts. 836, 899 e 805 do CPC.
Além da penhora de bens móveis, na constrição de imóveis também é possível adaptações visando a concretização da execução.
Não é incomum a penhora recair sobre terrenos com matrícula antiga, sendo posteriormente verificado por ocasião da vistoria que existem edificações encravadas no local. Como regra, as construções no terreno devem ser registradas na matrícula, mas sua ausência não impede a penhora, que irá abranger toda a edificação.
De fato, a construção havida no imóvel caracteriza uma acessão por edificação, prevista na parte final do inciso V do art. 1.248 do Código Civil, a qual se presume feita pelo proprietário, até prova em contrário, segundo dispõe o art. 1.253 do mesmo códex. Seguindo o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação deve englobar o bem em sua integralidade, com suas características e valor de mercado, inclusive benfeitorias.
As acessões não se confundem com as benfeitorias, pois estas são melhoramentos acessórios ao bem, enquanto aquelas o transmudam em bem distinto. Além disso, quando a edificação abrange toda a área do terreno, como geralmente ocorre em imóveis urbanos, a penhora e avaliação atingirá o novo bem, seja uma casa ou prédio, ainda que na matrícula conste apenas um terreno.
Como a avaliação de uma edificação costuma exceder bastante o valor do terreno, o valor que o sobejar pode ser objeto de disputa, especialmente em se tratando de execução contra espólios e empresas, com herdeiros e sócios expondo alegações de ilegitimidade passiva e impenhorabilidade.
Mas no caso da edificação urbana com área construída igual ou aproximadamente igual à metragem do lote descrito na matrícula, haverá um novo bem, caso o que restar do lote não puder ser aproveitado economicamente. Além disso, o bem não é suscetível de cômoda divisão, devendo ser penhorado, avaliado e alienado em sua integralidade, mesmo sem o registro cartorário, recaindo possíveis reivindicações sobre o valor da arrematação.
Em conclusão, este ensaio expôs adaptações vistas na práxis forense sobre penhora, avaliação, depósito, adjudicação, alienação e remoção de bens móveis e imóveis, buscando cumprir o objetivo final de concretizar a execução. Os procedimentos delineados adequam a legislação à realidade do
Oficial de Justiça do TRT 7° Região.
Conforme a NBR 6023:2000 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto cientifico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: COELHO, LEONARDO RODRIGUES ARRUDA. A Penhora e suas Idiossincrasias. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 20 fev 2025, 04:57. Disponivel em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigo/67853/a-penhora-e-suas-idiossincrasias. Acesso em: 21 fev 2025.
Por: LEONARDO RODRIGUES ARRUDA COELHO
Por: Túlio José Rocha de Vargas
Por: FILIPE EWERTON RIBEIRO TELES
Por: CYLLENE ZÖLLNER BATISTELLA GONÇALVES
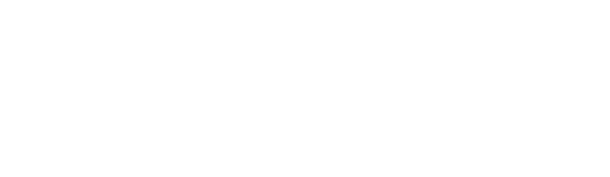
Precisa estar logado para fazer comentários.